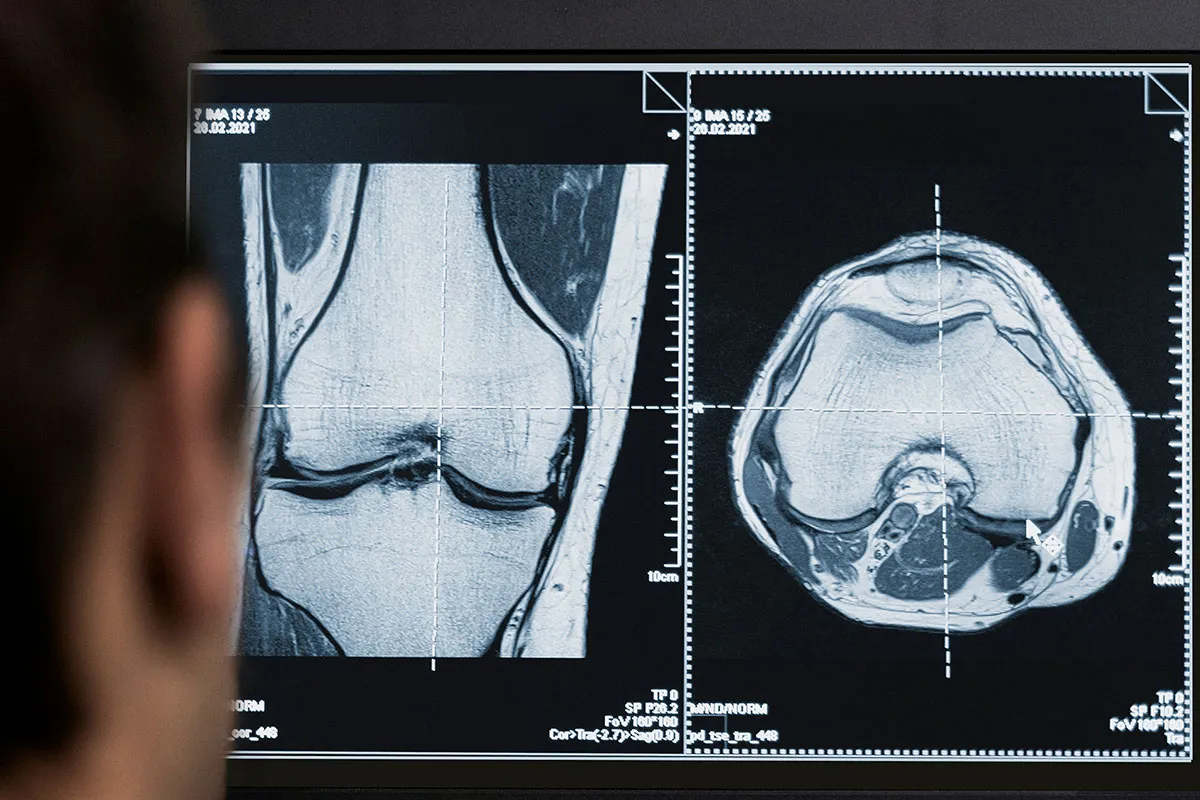Artistas comentam sobre a cultura em estado de agonia
Sem recursos e desprestigiados, artistas apostam no circuito alternativo e usam a falta de perspectivas como desafio e recurso para a criação

Editais cancelados, verbas cortadas, espaços fechados, acessos restritos, plateias esvaziadas. A cultura padece. Publicado em 2013 e festejado por toda a classe artística, o Plano Municipal de Cultura com suas dez diretrizes prioritárias tornou-se longínquo conjunto de palavras. E o que era ministério reduziu-se a secretaria especial federal, e o que era secretaria estadual projeta-se tornar pasta de cultura e turismo. Alvo de escárnio, artistas são desenhados como inimigos públicos. Financiamentos coletivos se proliferam, lugares alternativos se transformam em casas de cultura, públicos menores se fazem presentes. A cultura se reinventa?
“Em qualquer momento, o alimento do artista é o mundo, que não existe, que poderia existir e o que já existe. Na cultura contemporânea o mundo cotidiano é muito forte como material de produção”, aponta a atriz, professora e diretora Gabriela Machado. “Quando as pessoas estão sem perspectivas ou pessimistas é sempre por uma relação com o mercado, não por uma relação com a produção de arte. As pessoas não estão pessimistas com o que produzir, mas como produzir”, acrescenta. “Existe um medo de apostar, porque as pessoas estão entendendo que a tendência é não ter sucesso. E à medida que as apostas são menores, menos eventos vão acontecendo. Se não há espaço para o risco, a tendência é ficar como está”, sugere o artista visual e músico Guilherme Melich, para logo concluir: “Quanto menos contato o público tem com a arte, mais indiferente ela vai se tornando. Por isso é importante manter a produção como resistência. Não pode parar. Quando para, gera lacunas.”
O momento crítico, segundo Gabriela, impõe um debate, que deve ser menos mercadológico e mais filosófico. “Com dinheiro ou sem dinheiro os artistas estão produzindo. A cultura não para de ser produzida, com ou sem crise, porque é um processo social. Mas a forma como lidamos com ela é que vai deixando suas sequências. O fato de não ter o Festival de Teatro em um ano, e no outro também não ter, faz com que o público esqueça do calendário, quem tentava o edital desista de enviar projeto, que se perca a formação. Isso gera outras pequenas ações que chegam ao público e o desmobiliza. O compromisso de manter alguma coisa que seja deveria ser assumido pela política pública. E quando a gente diz que não vai parar de fazer, não é só por resistir e ser oposição, mas para dizer que não é só o mercado, o dinheiro, que define a produção de arte. Para quem quer continuar pode ter um mercado, mesmo que escasso. Para um artista, a circulação de sua obra, seu prestígio social, seus bens acumulados têm a ver com o mercado, mas sua produção tem muito mais a ver com estrutura do que com financiamento”, pontua.

Enfrentar a concentração de mercado
E ainda que a crise conforme inimagináveis fracassos, para o escritor, editor e pesquisador Daniel Valentim ainda não redesenha um novo modus operandi na cultura. “Essa ideia de que a quebra dos grandes é uma oportunidade para os pequenos é fruto ou de má fé ou, simplesmente, de ignorância. A migração de público que houve foi entre as lojas de departamentos, da Saraiva e da Cultura para a Amazon, é um movimento de concentração, como sempre ocorre com os mercados. As editoras grandes, por sua vez, ou compraram as ‘um pouco menores’ ou foram compradas por conglomerados estrangeiros. Os mercados se expandem por concentração do poder de oferta. Às vezes parece que é diferente por conta da ‘democratização’ dos meios de produção com as tecnologias digitais. Todos podemos ser um canal de televisão, é verdade, mas mesmo que você esteja ganhando muito bem com seus vídeos, isso é apenas uma pequena porcentagem do que o YouTube está ganhando com os canais de todos nós. No fim das contas, é concentração de mercado”, critica.
Com as editoras pequenas, comenta Valentim, o processo é o mesmo. Para ele, o colapso das grandes redes livreiras aponta para o fortalecimento da gigante Amazon com suas impressões sob demanda ou sua logística de armazenamento e envio de cópias. “O momento é dos grandes e enxutos: o máximo de estrutura com o mínimo de custo. Os pequenos são enxutos, claro, mas porque não têm estrutura nenhuma, então não adianta nada. Não tem essa de ‘nossa vez'”, afirma ele, que encerrou as atividades de seu selo, o Bartlebee. “Tive que desapegar. O problema é o grande clichê das pequenas iniciativas da indústria cultural: a conta não fecha, não importa o quanto você tente esticar o prazo. Quer dizer, é um custo financeiro, burocrático e de força de trabalho próprios de empreendimento, mas com retorno de hobby”, lamenta.

Ocupar novos espaços
Nenhum espaço vaga por tempo bastante. Novos sujeitos e cenários se expressam na alternativa de produzir, viabilizar e visibilizar a cultura. Segundo o músico Diego Neves, vocalista e guitarrista da Legrand, o discurso de quem consome música mudou. “Algumas pessoas ouvem mais por um engajamento, e aí as músicas precisam passar uma mensagem, e outras resistem a ouvir coisa nova. Tem sempre a ideia de que o que foi feito no passado é melhor do que é feito hoje. É difícil, também, ouvir alguém que escuta um álbum inteiro. O streaming transformou a relação das pessoas com o consumo da música. E isso reflete nos shows, porque as pessoas não querem ir a show de bandas novas, já que podem fazer isso no streaming”, comenta ele, apontando a redução das plateias, vista sob uma ótica negativa pela restrição do alcance, e por um ângulo positivo pela proximidade que o artista pode estabelecer com seu público.
Em Juiz de Fora, Guilherme Melich, artista visual e vocalista e guitarrista da Traste, aponta para o surgimento nos últimos anos de novas casas para tocar seu underground: Necessaire, OAndarDeBaixo, Maquinaria e Matinê. “Sempre tem algum lugar rolando. É algo cíclico”, diz. “O público está mais reduzido, então, para manter a energia tem que ser num local menor”, completa. E por não estarem sob a égide do mercado, esses lugares apostam no autoral, indica Diego Neves. E também em gêneros antes relegados apenas às margens. “A cena do rap aqui em Juiz de Fora tem conquistando novos espaços. Não temos shows de rap só nas ruas, mas em casas de shows. Isso é muito importante nesse momento político”, comenta a rapper Laura Conceição, pontuando, ainda, ver nas agendas pela cidade uma maior e constante presença do rap. “O centro também é um lugar de direito nosso. Nossa ideia é ocupar um lugar que é nosso e aonde muitas vezes não conseguimos chegar.”

Insistir bravamente
A mesma era digital que faz o rap de Laura Conceição desbravar lugares inimagináveis é desafio para o projeto editorial de Daniel Valentim. “Falando especificamente do mercado do livro, a tecnologia digital não teve uma revolução tão impactante na criação das obras, porque você usa o mesmo material e a mesma tecnologia tanto para narrar uma guerra intergaláctica quanto para descrever uma mesa de jantar. Esteticamente, o hipertexto, que seria um avanço, uniu a literatura com imagem e som, mas gerou um híbrido estéril, porque acabou dispersando o poder comunicativo da obra, exatamente o oposto de seu objetivo”, comenta ele. “Também não gosto da ideia de que a internet está deixando os leitores avessos a textos grandes e complexos. O internauta só não gosta de texto grande no site, porque os best-sellers continuam sendo calhamaços em série com 49 personagens por página. Na poesia, uma novidade estética seria a poesia-código, que usa linguagem de computador e deve “rodar” na máquina, gerando uma experiência aumentada do texto. Mas se a gente não lê poesia nem em português, imagina em PHP (linguagem de programação)?”
Mesmo com as distâncias reduzidas pelas redes virtuais, o músico e designer Diego Neves identifica barreiras que impedem a livre circulação. “No Spotify é fácil colocar uma música. Mas para fazer sua música chegar a mais pessoas é preciso inseri-la em uma playlist grande e famosa. Para isso é preciso brigar muito. Sou da época em que a MTV fez esse papel de mediador. Vi bandas que cresceram nesse movimento e que já não existem na era digital. Os artistas ganharam espaço para produzir, e ao mesmo tempo ganharam a responsabilidade de eles mesmos fazerem com que o negócio decole. Isso dificulta muito todo o processo”, comenta, citando a necessidade de investimento de grandes cifras e longas horas. Para Daniel Valentim, a realidade conforma novos nichos. “A gente tem que esquecer essa ideia de tiragem grande. Seu livro de poemas ou seu romance vão vender a quantidade de amigos e parentes próximos que você tem. Não tem a ver com a qualidade do texto: você pode ganhar o Prêmio Oceanos (um dos mais importantes em língua portuguesa) que seus poemas vão encalhar da mesma maneira. Artisticamente, a ideia deve ser produzir o livro e colocá-lo na roda. Com 50 cópias você já faz isso. Financeiramente, não vale a pena pensar nisso”, pontua.

Gritar na cara do medo
“Historicamente”, ressalta Diego Neves, “os momentos de retaliação à cultura são muito produtivos”. E com os ombros tensos, artistas criam. Laura Conceição vai por caminho parecido. “A cultura do hip hop sempre foi excluída de vários eventos e editais. É cultura de resistência. Agora sofremos mais do que o normal, mas vejo como um momento de inspiração, em que surge uma necessidade muito grande de resistir. Por mais que esse seja um tempo infértil para a cultura, com muitos cortes, é um momento em que a produção do hip hop está muito acentuada. Estamos fazendo discos e o cenário nacional está muito fortalecido. Acabamos fazendo o que sempre fazemos: resistimos”, alerta, para logo acrescentar: “O artista independente é aquele que de fato resiste, falando o que quer e precisa, livre de amarras criativas. Ao mesmo tempo, vive a instabilidade”.
“Desde que comecei a fazer meus filmes estudei diversos cenários, e cheguei à conclusão que se você depender de leis de incentivo você está literalmente f*****!”, diz o cineasta, editor e colorista Luciano Azevedo, superpremiado com os dois curtas-metragens de de sua trilogia “Cabrito”, cuja terceira e última produção será rodada em março, em parceria com produtoras cariocas. “Sempre busquei o cenário de coproduções fora do meio governamental. Fazer cinema já é difícil, e quando se trata de filmes de terror, as pessoas torcem o nariz. Esse desafio é o maior combustível para fazer mais e mais projetos”, pontua ele, que para seu primeiro filme gastou menos de R$ 2 mil e ganhou troféus no Brasil e no exterior. “Conheci várias pessoas em festivais e viagens que hoje são grandes parceiros e viraram grandes amigos. Trabalhamos em várias produções aqui e fora do país. Isso é que me faz querer produzir mais e mais. Um dia estou aqui, e no outro estou no meio do Oceano Atlântico gravando um documentário. É surreal! É como dizem: ‘O audiovisual te proporciona tempos de cólera e tempos de glória!'”

Produzir e circular
Concordando com o momento de grande produção artística, Guilherme Melich aponta para a exposição “Obsessões plásticas”, que toma o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas até este domingo, reunindo mais de 130 artistas visuais de Juiz de Fora. A produção, contudo, precisa ser escoada, defende ele. “Produzir e não circular é desestimulante”, assegura o artista visual. “Ano passado eu estava em um ritmo mais lento, muito por conta da falta de perspectivas locais. Tentei fazer contatos fora e enviei um projeto para o Museu de Arte Murilo Mendes, de uma exposição na qual retrato os artistas que retrataram o Murilo Mendes. O projeto foi aprovado e a exposição deve acontecer, o que me deu uma impulsionada. Estou a todo vapor no ateliê por conta disso”, conta.
Para Gabriela Machado, mesmo que existam as preocupações acerca da subsistência, o contexto macro deve se sobrepor. “Quando as pessoas falam da Lei Murilo Mendes, não estão preocupadas com a política pública da cidade. Ninguém está questionando o que a Funalfa quer fazer com o dinheiro que tem. Ninguém está exigindo da Funalfa um calendário anual com o pouco ou com o muito dinheiro que tem para fazer políticas públicas para a cidade. As pessoas só discutem a lei, que é de onde sai o dinheiro, que também é política pública, mas não é a única. Várias ações poderiam ser feitas para alimentar o meio artístico-cultural”, indica a atriz, diretora e professora, certa de que debater política cultural não se equivale a debater fazer cultural. “Como artista sou afetada por esse momento de violência, de miséria, por esse medo do que está por vir.”