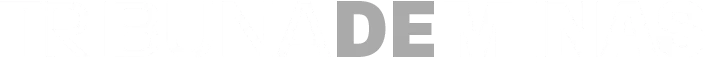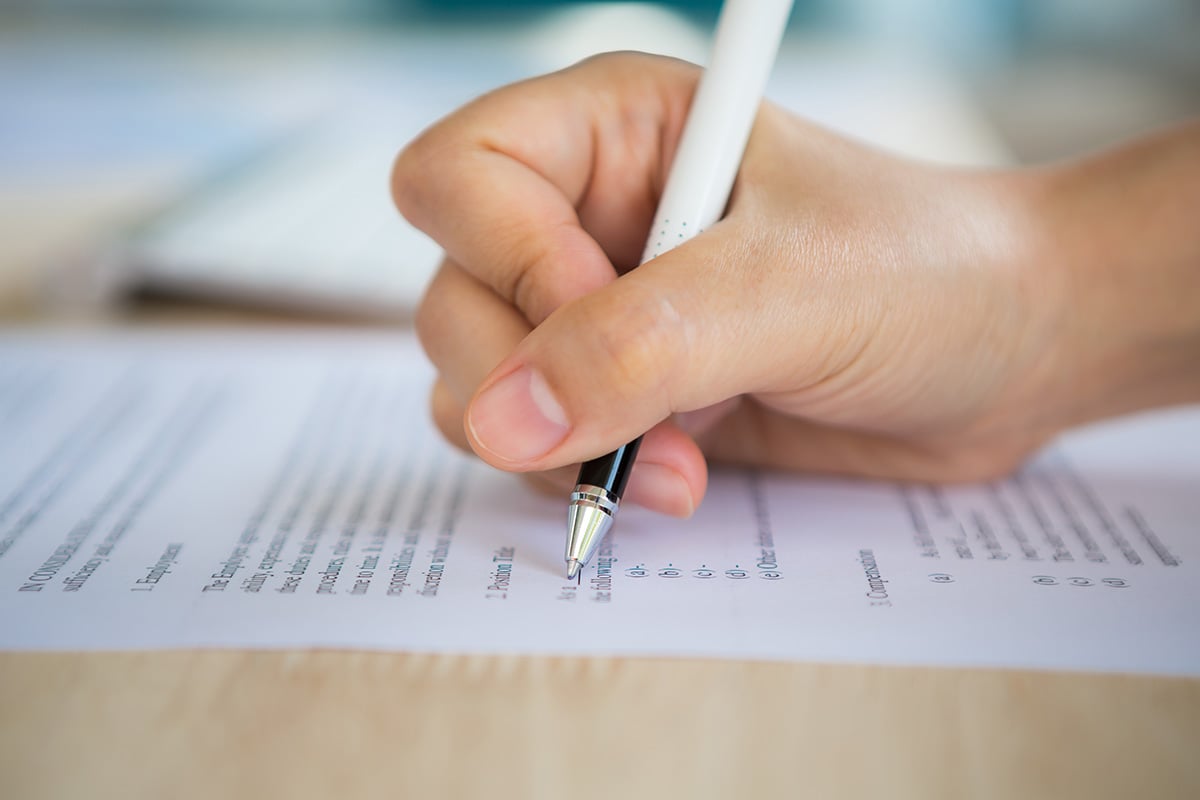A dor que ninguém fala: transtorno mental reconhecido pela OMS, luto prolongado ainda é pouco debatido
Tribuna conversou com especialistas e ouviu quem vivenciou a perda; encarar a finitude e mudanças culturais são necessárias

Em “Educação da tristeza”, o escritor Valter Hugo Mãe faz um relato íntimo sobre a perda de seu sobrinho, aos 17 anos, e da mais próxima amiga que teve, em um espaço de poucos meses. “Eu penso que a morte é um lugar por dentro de nós, um território mapeado no caminho interior que todos temos e tememos”, escreve. O luto que ele narra o faz questionar sobre a finitude, o que fazer com a ausência e como lidar com a dor. No campo psiquiátrico e psicológico, muitas dessas questões também são estudadas. Foi isso que levou ao reconhecimento do transtorno de luto prolongado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2022, diferenciando essa experiência do luto fisiológico e buscando trazer foco para uma problemática silenciada. Esse diagnóstico ocorre quando o processo causa uma dor constante, que se estende por longos períodos e impede que o enlutado restabeleça sua vida de maneira funcional. Para entender mais sobre esse transtorno, a Tribuna entrevistou especialistas que falaram sobre as diferenças em relação ao luto esperado, a necessidade de uma mudança cultural na percepção da morte e a importância do tratamento.
Após a perda de um ente querido, tudo ao redor muda, mas, ao mesmo tempo, as demandas externas não param, os dias de afastamento no trabalho são contados e as tarefas continuam a chegar. Assim, se dá início a um conflito interno entre a necessidade de vivenciar o luto e a urgência de retomar uma rotina que não espera. É o que aconteceu com Ângela, nome fictício de uma entrevistada que, optando por não se identificar, detalhou sua experiência. Esse era um tema pouco presente em sua vida até 2019, quando perdeu sua mãe. “A morte para mim não era sequer pensada.” Por medo de perder alguém próximo, ela evitava refletir sobre a morte como uma consequência natural e inevitável da vida. “Com certeza enfrentar a realidade da morte teria facilitado o meu processo.”
A partida da mãe de Ângela, após seis meses de internação em razão de uma doença grave, marcou o início de um luto que, no entanto, precisou ser postergado para dar conta das extensas demandas que se seguiram. “Só me dei conta de que havia um luto que eu precisava enfrentar, vivenciar e tratar seis meses depois.” A principal preocupação era cuidar da sua avó por parte de mãe, que, na época, tinha 90 anos e desenvolveu um quadro de demência no dia seguinte ao enterro. “Nessa corrida por fazer as coisas acontecerem sem ela, que sempre foi a figura central da nossa família, esqueci de cuidar de mim. Foi quando percebi que estava doente, muito por conta da ansiedade excessiva, e precisava de ajuda profissional”, relata. O diagnóstico recebido foi de estresse pós-traumático e depressão, reflexo de um luto prolongado não tratado. “Por ter adiado a busca por ajuda, por não ter me permitido vivenciar o luto quando ele aconteceu, por ter me enganado de que estava tudo bem, desenvolvi um luto prolongado, que se estendeu por muitos anos.”
Autora de livros reconhecidos acerca do tema finitude, como “A morte é um dia que vale a pena viver” e “Histórias lindas de morrer”, a médica e escritora Ana Claudia Quintana Arantes aponta que o aumento do risco de sintomas persistentes de luto e adoecimento emocional está interligado com a dificuldade de falar sobre morte. “Na nossa cultura, a morte costuma ser empurrada para fora da conversa comum. Quando o tema é silenciado, quem perde alguém sofre sem reconhecimento, vive um luto desautorizado e recebe menos apoio.” Ela também é especialista em cuidados paliativos e desenvolve projetos voltados para uma abordagem humanizada da morte e do luto com o objetivo de desmistificar esse tema tão silenciado. “É por isso que trabalho em ‘letramento em morte’ e em redes comunitárias de cuidado: quando a comunidade participa, os rituais voltam, as conversas aparecem e o luto encontra lugar.”
Qual a diferença entre luto esperado e luto prolongado?
Muitas vezes, a sociedade impõe um prazo para superar o luto. É esperado que, após um determinado tempo, a pessoa retome sua vida, suas atividades e que a saudade dê lugar a dor. No entanto, para muitos, esse processo ocorre de uma maneira mais profunda e persistente, dando lugar ao chamado luto prolongado, que não é caracterizado apenas pelo tempo de persistência do sentimento de dor, mas por sua intensidade e capacidade de perdurar. A professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Fabiane Rossi, esclarece que o luto é um processo esperado, natural, e que não é uma doença e nem deve ser medicalizado. Porém, quando as consequências e sequelas impactam significativamente a vida do indivíduo enlutado, pode passar a se configurar como um transtorno. “O luto esperado é aquele que a pessoa vai ter lembranças, memórias, tristeza, dor, sofrimento, mas vai conseguir retomar lentamente as suas atividades sociais, afetivas, laborais. Nós falamos que o luto não tem fim, ele não tem fase, igual achávamos antes. O que deve acontecer é ter oscilações de comportamentos, ora para perda, ora para a restauração”, esclarece Fabiane.
Esse foi o quadro narrado por Ângela, que se encaixa na Classificação Internacional de Doenças (CID-11) da OMS. O médico psiquiatra Alexandre Rezende, professor na UFJF, explica que essa definição ocorreu a partir da percepção clínica de que há pessoas que desenvolvem problemas relacionados ao processo de lidar com a perda. Entre os sintomas, o médico cita a preocupação constante com o bem-estar do falecido, o abandono do autocuidado e a dificuldade de retorno para as atividades cotidianas ou a manutenção das relações. “É importante um acompanhamento para definir até que ponto aquela reação é fisiológica, que devemos ouvir e acolher, e quando passa a ser um transtorno que exige uma intervenção mais específica, seja do ponto de vista psicoterápico ou farmacológico”, explica.
Existe tratamento?

A diferenciação do luto prolongado para o luto considerado esperado ou fisiológico permite que o primeiro seja tratado. “Hoje, não temos nenhum remédio para tratamento do luto prolongado. O que fazemos, na verdade, é o uso de medicamentos de acordo com as queixas do indivíduo, como queixas depressivas, ansiosas ou dificuldade para dormir. O mais importante hoje é a abordagem psicoterápica”, explica o psiquiatra. Há alguns fatores de risco para o desenvolvimento do transtorno que também precisam ser levados em conta durante o tratamento, como a forma que a morte ocorreu e a relação que se tinha com o indivíduo. Mas, para ele, o reconhecimento do transtorno também ajuda no desenvolvimento de novos estudos para lidar com essa problemática.
Da mesma maneira que a medicação pode ser uma aliada importante, a desmedicalização também precisa ser feita em muitos casos para um tratamento aliado à psicoterapia. “Muitas vezes o medicamento anestesia a pessoa e dá uma falsa sensação de que está tudo bem, mesmo quando ainda é necessário que a pessoa elabore essa perda e esse luto”, continua o médico. O tratamento, portanto, precisa ser elaborado especificamente para o paciente, e com apoio de uma equipe multidisciplinar, explica.
O luto prolongado é o mesmo em todas as idades?
De acordo com a pesquisadora da UFJF, o perfil de pessoas que passam por um luto mais complexo tem se transformado. Se antes a maior incidência era em idosos, hoje se observa um aumento entre jovens e crianças. “Nós subestimamos a capacidade de entendimento da criança sobre a morte”, aponta a psicóloga, destacando a dificuldade cultural em abordar o tema com os pequenos, o que os impede de vivenciar rituais e despedidas essenciais. “Mesmo que não seja uma despedida convencional de um velório, que seja por meio de uma carta ou soltando um balão, sempre falando a verdade, mas dosando conforme a idade.”
“Meu filho sempre foi muito apegado à avó materna e, até hoje, também sente muito a perda dela”, diz Ângela. Quase seis anos depois da morte da mãe, o pai de Ângela faleceu e, foi através dessa perda, que ela percebeu que já estava lidando com o luto de uma maneira diferente. Tanto para ela quanto para o filho, a terapia foi fundamental para conversarem e lidarem com o que passaram. Na casa dela, a morte passou a ser um tema falado. “Vivenciamos essa realidade diariamente. Da falta, da saudade, da ausência, do vazio no coração e em casa, mas também das inúmeras memórias afetivas da vovó e do vovô, que fazemos questão de compartilhar”, comenta.
Com o propósito de propagar informações sobre o assunto, Fabiane coordena o Projeto Enlutar. Criado em 2020, a iniciativa oferece suporte psicológico on-line e presencial, no ambulatório de luto do Hospital Universitário (HU), com foco no desenvolvimento de habilidades para o manejo do luto. O Enlutinho é a vertente do projeto direcionada a crianças de 3 a 12 anos, com atendimento individualizado. O projeto também atua na educação para a morte e para o luto em escolas e com profissionais de saúde, buscando desmistificar o tema e preparar a população para a finitude.
Como falar sobre a finitude?
A importância de lidar com a finitude vem muito antes da morte e ajuda as famílias que começam esse processo de sofrimento bem antes do falecimento de um ente querido, como nos casos em que há demências e doenças de declínio lento. “É a experiência da perda ambígua: a pessoa está e não está. Nessa travessia, eu ajudo a nomear as pequenas perdas, criar rituais ao longo do caminho, dividir decisões em passos, e cuidar também de quem cuida, porque carga e luto antecipatório andam juntos”, explica Ana Cláudia. É o que também percebeu Ângela, que, logo após sua perda, acreditava que precisava preencher o lugar deixado pela mãe e dar conta de todas as demandas, que envolviam cuidados com a casa, com os familiares e o trabalho. “Sempre achei que podia ir absorvendo as tarefas, que daria conta, por ser filha de uma mulher forte e aguerrida como ela. Não me permitia reduzir o ritmo, não me permitia errar, não me permitia parar, nem pedir ajuda, muito menos olhar para mim.”
A terapia, com foco no luto, a ajudou a compreender com o tempo que as duas eram pessoas diferentes e que ela precisava vivenciar a perda, para tentar seguir com a própria vida, da melhor forma que conseguisse. “Hoje, tenho absoluta certeza e tranquilidade ao aceitar que não tenho controle nenhum sobre a partida de quem amo, por mais que me esforce para cuidar deles com todo o meu afeto e o meu respeito.” Da mesma maneira, Ana Claudia entende que informação clara, descanso do cuidador, grupos de apoio e presença compassiva fazem a diferença nesse momento. Falar do fim, afinal, não se trata de um convite à idealização: “É um compromisso com dignidade como cuidado contínuo — aliviar sofrimento, escolher junto, manter sentido e afeto até o fim. A vida segue numa oscilação saudável entre encarar a perda e reconstruir a rotina; quando planejamos com antecedência e cuidamos cedo, o último dia pode ser menos medo e mais verdade”, conclui.