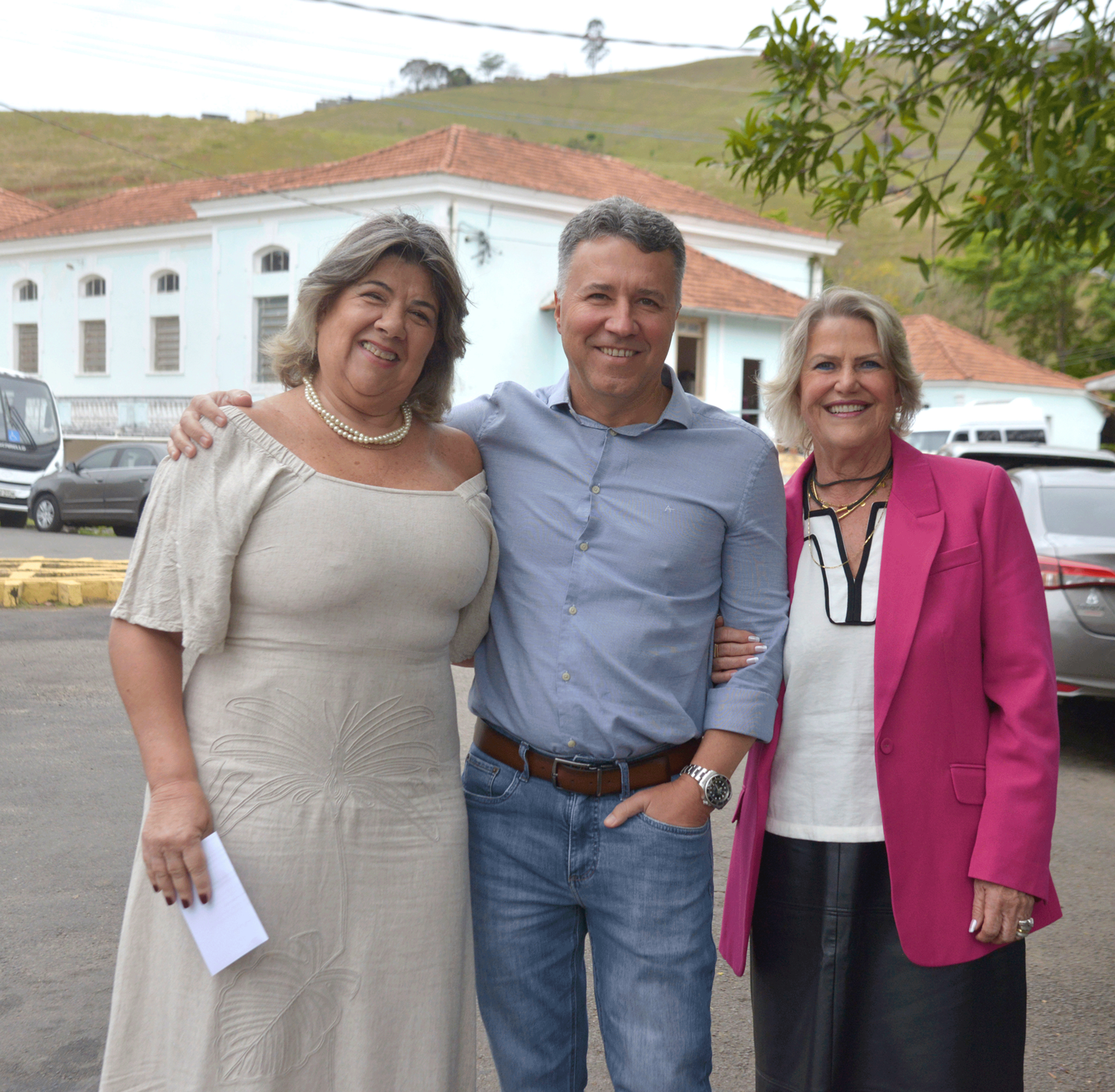Zélia, a cientista ultrarresistente como o vidro que cria
Cientista, professora, mulher, mãe e negra. A física do corpo em luta de Zélia Ludwig, uma referência internacional na ciência exata brasileira

“A ciência é muito competitiva. Quer sempre provar o melhor.” Mas se não deu certo, essa mesma ciência oferece nova oportunidade. “A gente aprende com o erro e o acerto”, conta Zélia Maria da Costa Ludwig e seu entusiasmo diante de um excelente espectro de um filme plástico. É preciso insistir. E continuar persistindo. “O espectro é o resultado da interação do laser quando passa pela amostra”, explica ela, pesquisadora colaboradora do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) na caracterização de materiais dosimétricos. “O dosímetro é um material que você irradia, e ele te dá informações da quantidade de energia que recebeu. Isso serve para que, quando for irradiar um paciente num tratamento, não precisa testar com ele, mas com o dosímetro. Quando comecei, mexia com dosímetros que se pareciam com alguma parte dos tecidos humanos. Já quando fui fazer o pós-doc, adaptei meu trabalho para o vidro. A pesquisa cresceu, e, em Minas Gerais, vim trabalhar com alimentos. Tenho alunos que pesquisam café, plástico e vidros. Tem mecânica quântica por trás disso, eletromagnetismo, física do estado sólido e muito mais”, aponta a mulher de riso fácil, didática constante e 50 anos de caminhada, mesmo tempo de existência do Departamento de Física da UFJF onde leciona há uma década e onde ajudou a criar o Centro de Pesquisa, Ensino e Inovação em Materiais.
Zélia fez algumas descobertas. Em colaboração com a agência espacial Nasa, após intercâmbio com um físico que conheceu durante o pós-doutorado no Missouri, participou do desenvolvimento de um vidro ultrarresistente. O mais importante, no entanto, foi a descoberta de si mesmo. “Trabalhei com materiais novos. Ajudei a caracterizar um material, hoje muito citado. Estou contente com tudo, e mais feliz com o fato de ter acordado para a vida diante da ciência. Eu poderia ter morrido num laboratório sem ter acordado para o mundo a minha volta. Conheci novas pessoas e descobri que existe muita gente certa de que precisamos de humanidades dentro das exatas. Precisamos aceitar o outro como ele é. Precisamos não ter preconceito, de raça, de gênero ou de classe social. Sou mais feliz desde que acordei, olhei para os lados e perguntei: quantas mulheres negras têm na física? Saí à caça. E não têm tantas, mas têm biólogas, engenheiras, todas cientistas. Criei uma página no Facebook chamada ‘Mulher, ciência e sociedade’. Foi então que percebi que não precisava ser a advogada que eu pensei um dia, para mudar o mundo. Posso mudar a minha realidade e a das pessoas que estão a minha volta sendo física.”

Minha cara
Foi numa festa no prédio, um dia. “Uma vizinha me falou: ‘Nossa, olhando para você não dei nada. Você não tem cara de cientista!’. Eu tenho que ter cara de cientista? Não. A gente tem que ter a nossa cara, o nosso estilo, o nosso jeito”, comenta. Outro dia, foi na entrada do prédio. “Uma criança me perguntou: ‘Você trabalha em qual apartamento?’ Eu parei, abaixei e contei que trabalho na universidade, sou cientista, e o envolvi. Faço isso porque a criança já tem uma visão estereotipada de achar que uma pessoa como eu só pode ser empregada nesse prédio. Quero que ela mude para criar um novo mundo, sem reproduzir esses equívocos”, conta. Dia desses, foi quando descia a rua de casa, no Bairro Paineiras, de manhã bem cedo. “Uma mulher me parou. Eu estava com meu marido. E ela disse: ‘Vocês são cuidadores de idosos? Vejo sempre vocês descendo e preciso muito de gente para cuidar de idosos’. Na cabeça dela, ela achava que não morávamos no prédio, mas éramos cuidadores, porque não podíamos morar naquele lugar. Meu marido foi embora, não teve paciência. Eu parei e falei: ‘Não cuido de idoso e nem conheço ninguém para indicar. Moro aqui. E saio cedo para chegar cedo na universidade, onde dou aulas. Cuido de jovens e ajudo para que não tenham essa visão estereotipada de mundo’.” O dia era hoje, quando Zélia recordou o que havia lhe acontecido minutos antes. “Agora mesmo uma aluna me contou que um colega perguntou para ela: ‘Como é a aula da Zélia? Ela tem bastante formalismo matemático? Ela pega pesado? Porque ela está dando teoria do eletromagnetismo, e eu quero saber para fazer com ela’. Ele faz essa pergunta para outro professor? Será que sou boa? Fiz USP, o pós-doc no Materials Research Center da Universidade do Missouri, participei do programa da Max Planck de Dresden, na Alemanha, fui aceita com bolsa no International Centre for Theoretical Physics na Itália. E ainda sou sempre testada. Não basta publicar um artigo por ano, é preciso mostrar que é o melhor, é preciso conquistar o respeito a todo tempo.”
Meu lugar
Foi nos corredores da universidade que Zélia viu com clareza o lugar a que tantas mulheres como ela, negras como ela, estão relegadas. “Sei que outros colegas meus, que viveram a mesma realidade que eu, não fizeram o mesmo caminho que fiz”, diz. “Vejo tantas meninas limpando a universidade. Quero fazer uma campanha para incluir essas meninas, as mulheres e, sobretudo, as mulheres negras na universidade. Muitas pessoas se incomodam com as cotas, mas não acham ruim que essas pessoas sejam empregadas delas. Elas podem limpar o ambiente que você estuda, mas não podem se sentar do seu lado? Peraí! Larga essa vassoura e vem ser doutora!”, sugere. “Há resistência até mesmo no meio acadêmico, com pessoas de mente fechada, que não querem que as pessoas tenham acesso à ciência. Como popularizar, então? Passou o tempo em que o médico escrevia receita com aquela letra de garrancho, que o paciente não entendia. Hoje a ciência tem que ser para todos e facilitar a vida de todos. Não dá para ter uma ciência que beneficia alguns e outros são apenas objetos de estudos. O negro, o índio, o pobre não pode ser sempre objeto de estudo. Ele tem que ser parte do estudo, estudar junto”, avalia a pesquisadora que se fez militante no entra e sai de laboratórios, às voltas com números e equações. “Ciência não deve ficar só dentro de laboratório”, defende ela, convidada para o fórum “ELAS nas exatas”, da ONU Mulheres, e para o comitê de avaliação do CNPQ, além de uma das homenageadas do Mérito Comendador Henrique Halfeld, cuja solenidade acontece no próximo dia 26.
Minhas mãos
Foi diante das caixas fechadas que Zélia encheu-se de fôlego. “Não tive auxílio para fazer isso aqui”, afirma, apontando para toda a sala, atendo o dedo numa tubulação de gás. “Eu, meu pai e meus alunos carregamos tijolos, fizemos estrangulação e montamos uma linha de gás que custaria R$ 19 mil. Se não tem ninguém para fazer, nós fazemos. E isso eu também ensino para os meus alunos. Não somos super-heróis, só não vamos ficar de braços cruzados esperando a máquina apodrecer num caixote. Esse equipamento era para se perder, mesmo tendo custado meio milhão de euros. Foi montado por mim e pelos meus alunos. Não temos um técnico para operar essa máquina, e quem opera é o Vitor, meu aluno no mestrado”, pontua ela, referindo-se a um aparelho acoplado responsável por fazer espectofotometria e análise térmica. Numa outra parte da sala, estão duas máquinas projetadas pelo pai de Zélia. “Não gosto de dizer que ele é um Professor Pardal, porque associam o cientista ao cara que faz engenhoca. Não é assim. O cientista é um cara engenhoso, que pensa. Tudo o que o meu pai vai fazer, prepara um dispositivo antes. Se tiver que subir um concreto para cima da casa, trabalha dois dias fazendo carretilhas e, na hora, até uma criança puxa a corda. Meu pai também sempre incentivou as filhas. E esse é o papel dos pais, não é mesmo?! Meu pai cerrava pontas de madeira em casa para a gente brincar. Fazíamos casinhas, trenzinhos. Minha mãe fazia vestidos de boneca para nós”, recorda-se. “Quando eu era pequena, meu pai dava para a gente ler ‘Ciência ilustrada’, ‘Tecnirama’, e éramos criadas dentro da oficina. Meu pai é um cientista”, afirma, certa de que espalham-se pelo globo cientistas como ele. “Nas nossas culturas quilombolas e indígenas, já sabiam sobre o poder da cura das ervas medicinais. Isso é ciência, só não foi colocada num papel, quantificada, medida num equipamento de última geração. Quando esse conhecimento for aproveitado, teremos muitos Einsteins no Brasil. Basta olhar os meninos brincando nas favelas, montando carrinhos de rolimã, empinando pipas. Eles são criativos, fazem brinquedo com cada coisa inacreditável. Imagina a criatividade desses meninos e meninas sendo aproveitada pela universidade! A dificuldade socioeconômica não deve ser uma limitação. Eu conseguir chegar aqui não significa que todos também podem. É preciso haver apoio. A sociedade precisa apoiar para que outras mulheres negras estejam aqui comigo.”
Minha casa
Foi em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, que Zélia teve o umbigo enterrado. “Meus pais foram para São Paulo quando éramos crianças (ela e a irmã, também doutorada, hoje radicada na Alemanha), em busca de melhores condições. Meu pai é torneiro ferramenteiro e concluiu que lá não conseguiria estudar as filhas. Ele achava que filho estudado conseguiria se virar. São Paulo, naquela época, era a terra do sonhos. E fomos em busca de um sonho. Naquela época, não prezava mulher trabalhar, então, minha mãe ficava em casa, tomando conta da gente, garantindo o estudo, e ele, o sustento da casa. No estado, moramos no subúrbio, em Francisco Morato. Era uma cidade muito longe das universidades. Hoje já colocaram metrô. Fazer o trajeto até a USP de carro, de trem ou de ônibus era cansativo. Era complicado. E ainda hoje vejo que é complicado. E se a universidade quer ser inclusiva, se o povo não vai até ela, ela precisa ir até o povo”, comenta ela, que por muitos e muitos anos fez o trajeto entre a cidade periférica e a capital, até concluir o pós-doutorado, justamente quando conheceu Valdemir Ludwig, casou-se e foi mãe de Isabella. A física experimental (dela) encontrou a física teórica (dele). Hoje física teórica-experimental, Zélia sofre por outros deslocamentos. “As dificuldades que não são físicas eu não sentia quando era mais nova, no tempo de Francisco Morato. Os tetos de vidro que me impediam de crescer fui percebendo à medida que minha carreira ia afunilando. Falam que são invisíveis, mas a gente sente essas barreiras, sente que precisa lutar mais que o outro”, lamenta, ultrarresistente como os vidros que cria em laboratório. Onde deseja chegar? “Vou te responder com a mesma resposta da minha filha, Isabella, quando fiz essa pergunta a ela. ‘Quero ser feliz!’.”