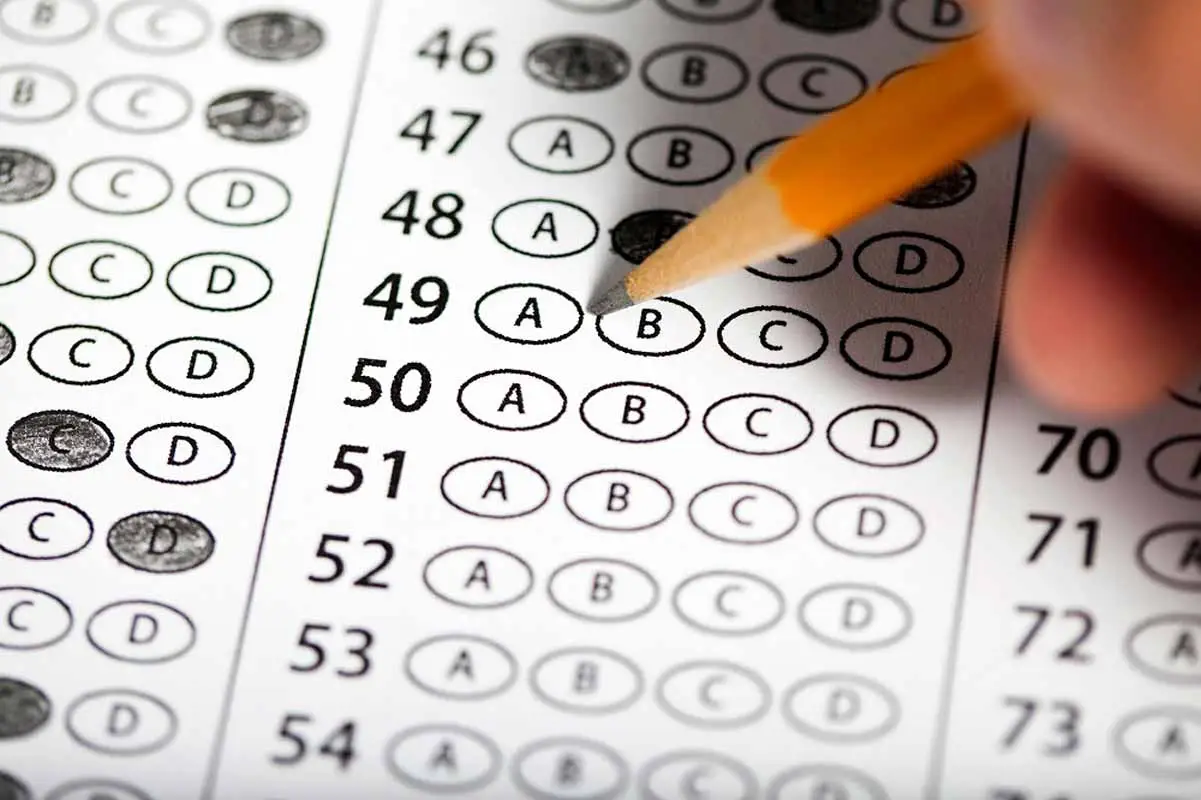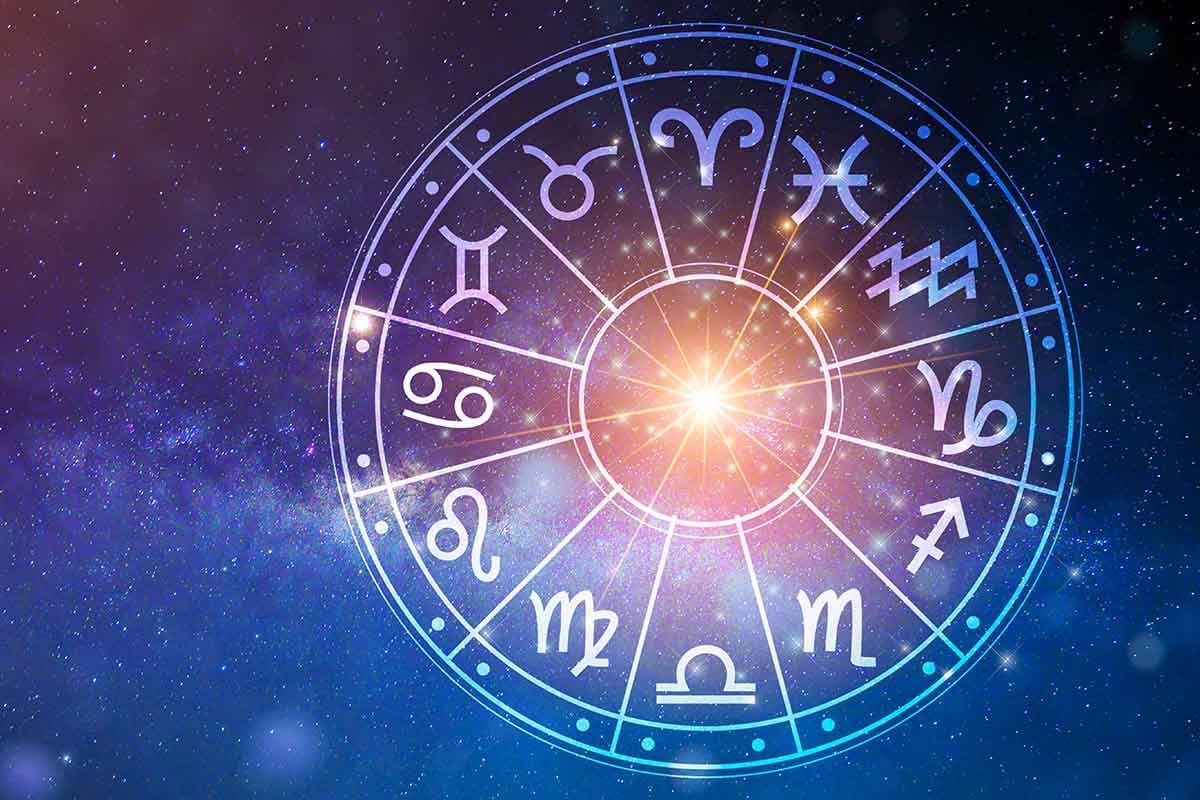Conheça as histórias do Bairro Dom Bosco, na Cidade Alta
Moradores relembram memórias da comunidade que já foi conhecida como Serrinha

A fachada de umas das casas da Rua Araguari, no Bairro Dom Bosco, é amarela. Mas as roupas recém-lavadas, entremeadas por um verde vivo das plantas e árvores cultivadas por ali, quase escondem sua cor original. Maria Rosa Gonçalves, agachada, termina de esticar, do lado de fora, a roupa que acabou de lavar. Enquanto isso, Olga Francisca Gonçalves, da janela, observa o trabalho da irmã, atentamente. Elas conversam sobre alguma coisa mais corriqueira. Essa é uma cena que se repete diariamente. Mas, profundamente, essa mesma cena representa um tanto de coisa na vida dessas duas irmãs, que precisaram ser lavadeiras e, ainda, precisaram se mudar, logo cedo, para o Dom Bosco, em busca de uma vida melhor. Esse caminho, além da vida delas, é representação do próprio desenvolvimento do bairro, que é fruto, principalmente, da migração pós-abolição de escravos e suas famílias, que enxergaram ali o lugar possível para habitar, mais próximo do Centro e da sonhada oportunidade. A maioria ficou e fincou raízes naquela serra coberta por mato e com minas por todos os cantos.
Olga e Maria Rosa moravam no Salvaterra. “Viemos melhorar um pouquinho, né? Lá não tinha muita coisa”, lembra Olga. Na Serrinha, como o Dom Bosco era conhecido, elas já tinham alguns conhecidos e inclusive familiares que fizeram esse mesmo trajeto, partindo do Salvaterra. “A gente veio por indicação, pois, naquele tempo, o pessoal foi construindo as casinhas. Mas, quando chegamos aqui, não tinha nada, nem água nem luz”. A avó delas já era lavadeira. E, ali, nesta serra, o que não faltava era lugar para lavar, nas minas. “E a gente tinha que trabalhar, né? A única profissão que sobrou para minha mãe e para mim, que ficava do lado dela, era lavar roupas. Pegava as roupas das madames e lavava. Carregava as águas das minas”. Maria acabou indo por esse mesmo caminho: “Às vezes, era meia-noite, e a gente estava carregando água da mina”.

Alguns resquícios dessa época ainda restam. Minas já não são mais tão comuns como antes. Mas as pedras onde elas colocavam a roupa para quarar ainda existem entre as casas. “Tem uma pedra grande ali fora, e a gente colocava as roupas nela para quarar. Quando chegava a noite, era preciso correr e levar para dentro de casa”, conta Maria, que, de certa forma, ainda faz o mesmo. Ela coloca as roupas do lado de fora de casa e, logo mais tarde, vai buscar. E a água não era só para lavar roupa, não. Era para o consumo também. E é por isso que todo mundo que morava ali tinha que fazer esse trajeto: subir o morro e ir atrás da mina mais próxima ou menos cheia.
Para as irmãs, isso era totalmente trabalho. Elas não sentem falta, porque foi um tempo que ainda dói no corpo delas: carregar latas, depois ter que lavar e torcer cada uma das peças, sem contar a perna que tinha que aguentar trilhas e trilhas para cima. Todavia, isso, para Rosalina Corrêa Costa, que já nasceu na Serrinha e também chegou a trabalhar como lavadeira, habita em um outro lugar nas suas memórias. Ela sente saudade das brincadeiras na rua, de subir e descer os morros, de entrar nos buracos enlameados, com roupa de escola mesmo, depois da chuva, de esconder entre as árvores na hora do pique-esconde. “Sinto saudade também de buscar água, sabia? Porque a gente todo dia saía de casa, umas 16h30, ia uns três ou quatro, com lata na cabeça lá em cima. E vinha com ela cheia na cabeça. Era difícil, mas era bom. Porque, enquanto a lata estava enchendo, a gente estava brincando. Tinha boi no pasto, e a gente mexia com eles e corria.”

É como se tudo ali acabasse em água: das boas lembranças às tragédias. Rosa lembra, por exemplo, que tinha um redemoinho por ali, em cima da casa onde mora, na Rua Monsenhor Gustavo Freire, em que os meninos gostavam de brincar, na sua época. “Era tão clarinha que puseram o nome de Cantinho Azul. Mas era só pedra e água. Era um perigo danado. Agora, é um prédio, e a água até secou. Eu não nadava porque tinha medo, não via meu pé”. Ela lembra também que, diferente de hoje, em que o Dom Bosco é caminho para outras partes da cidade, os acessos à Serrinha eram limitados. Na atual Itamar Franco, por exemplo, corria um córrego que, vez ou outra, enchia e impedia que as pessoas subissem ao bairro. “Muita gente morreu ali. Carro caía.” Olga e Maria contam a mesma cena. Maria e uma outra irmã, inclusive, já se arriscaram e passaram no córrego cheio mesmo, porque precisavam trabalhar do outro lado. “Conseguimos. Agradeci a Deus. Fomos trabalhar. E só dava para passar por ali. Mas, nunca mais.”
O lugar era todo de barro e trilha. Quando chovia, sujava os sapatos limpinhos que tanto Maria e Olga quanto Rosa, depois de mais velhas, usavam para ir aos bailes que passaram a existir no Dom Bosco. A grande maioria fruto dos tantos clubes esportivos que tinham ali. “Aqui tinham vários times. Tinha a Portuguesa, a Estrelinha e o Serrano. Tinha um campo aqui perto. Era engraçado, pois tinha a rainha do campo. Aqui na frente tinha a sede do Serrano. Existia baile durante a noite toda. Era uma farra. O lazer aqui era forte”, comenta Rosa. Ela lamenta que isso tenha acabado, principalmente com o fim dos campos de futebol no bairro, o mais famoso deles, na Curva do Lacet.
Serra de baixo, serra de cima
Outras coisas ela comemora que acabou. O lugar onde ela mora é considerado o centro do bairro. Mas existe, por exemplo, o Chapadão, o ponto mais alto do Dom Bosco. “Hoje em dia, a gente é até mais unido. Antigamente tinha até briga. O pessoal falava que aqui era a serra de baixo. Lá, serra de cima. Era uma confusão. Mas hoje em dia não tem mais isso não. Quer dizer, moças da serra de cima não podiam namorar rapaz da serra de baixo. Olha que palhaçada. Era complicado. Hoje em dia não tem mais isso. Graças a Deus”, ri.
Rosa e Maria participam do Projeto Semente, que funciona no bairro e proporciona várias atividades na comunidade, como o coral, que, inclusive, na semana anterior, recebeu um reconhecimento na Câmara. O projeto é uma oportunidade para que elas continuem encontrando as “coleguinhas”. Rosa, em sua casa, cuida de um quintal grande, onde sua bisneta hoje brinca, já que não dá mais para brincar na rua, como ela fazia antigamente. “Porque, na minha época, não passava carro aqui, né? Hoje só tem isso.” Maria também cuida do quintal de sua casa. É como se fosse herança deixada por seu avô, João Carreiro, que inclusive morreu com 129 anos, como ela conta. Ele era conhecido na Serrinha por ter, nas plantas do quintal, os remédios para todos os males. “Ele pegava os raminhos aqui. Por isso eu conservei isso. Até hoje tem quem vem aqui buscar remédio. E eu dou. Tem remédio para tudo”. As três seguem no bairro e afirmam que é o lugar onde querem ficar. Depois de tanta luta, são cuidadosas para seguir fazendo o Dom Bosco um lugar bom de morar. Distante da ideia de Serrinha nas oportunidades, mas próximo nas boas memórias.

Semente do bairro
Edmar Cassimiro, por outro lado, pouco viu dessa Serrinha. É a nova geração do bairro. Nasceu e vive até hoje na parte mais alta, no Chapadão. Cresceu brincando na rua, explorando os lugares dos bairros e as matas que ainda existiam. Mas ele foi chamado pela arte e não teve jeito. “Foi nessa rua aqui onde tudo começou”, ele conta, na Rua Silvério da Silva, onde ainda mora. O primeiro instrumento que teve contato foi um cavaquinho de plástico que ganhou de presente, quando tinha sete anos. Tocava em casa, treinando. Tentava copiar o que via os mais velhos fazendo nas rodas de samba que eram comuns no bairro e reunia a comunidade toda. Com nove, ganhou um cavaquinho mais profissional, de verdade. “Com o cavaquinho de plástico eu descobri que a arte me fazia bem. Eu tocava em casa, mas sozinho não tinha tanta graça. Eu comecei a juntar meus amigos. E nós construímos uma banda de instrumentos recicláveis. Foi o meu começo. E não parei mais.”
Depois, entrou em um projeto que tinha no bairro de algumas irmãs, quando a paixão pela música ficou ainda mais latente. Nesse tempo, em uma apresentação de banda civil, viu, pela primeira vez, um saxofone, e ficou apaixonado, quis aprender a tocar os instrumentos. Em uma outra escola de música que passou a fazer parte, não tinha o sax, mas tinha um violoncelo, que ele tocou até que chegasse um professor do instrumento que realmente queria. O professor era o Glaucus Linx, que deu um mês de aula, e Edmar aprendeu o necessário para, depois, ir desenvolvendo as habilidades aos poucos.
Mesmo no saxofone, não abandonou o pagode, tão comum no bairro. “Não é uma prática aqui ter o saxofone nas rodas. Eu comecei a colocar em alguns momentos do samba, mas fora da comunidade. O pessoal do bairro passou a me ver tocando mais nas redes sociais, não aqui. Até porque já tinha diminuído a quantidade de práticas musicais na comunidade. E eu comecei a tocar muito fora do bairro. Dando essa oportunidade na inserção do saxofone, e fui descobrindo caminhos para que fosse possível juntar a música que eu gostava de fazer, que era o samba e o pagode, com a vontade de tocar o saxofone”. Ainda hoje, ele toca em alguns projetos, mas sempre fora do bairro. Tanto que, no dia da entrevista, tocou seu saxofone, no som amplificado, na rua e, na mesma hora, a vizinhança saiu toda para fora das janelas e das portas, a fim de parabenizar o Edmar pela habilidade. Era novidade vê-lo dessa forma por ali. E ele só é músico por causa das práticas culturais do bairro, de ver todo mundo reunido em uma roda de samba, malhando os dedos e as vozes.
O interessante é que Edmar é conhecido no bairro. Se não for pela música, é pelos projetos que passou a desenvolver no Dom Bosco, através do Instituto Dom. Ele conta que a ideia surgiu quando ele fazia faculdade na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). O bairro, naquela época, apresentava um alto índice de violência, e o nome era constante nos jornais por causa disso. “Eu, enquanto morador, que estava em uma instituição federal, que discutia políticas públicas, e as discussões só ficavam na teoria, me senti com a obrigação de dar uma contrapartida para o bairro. Foi aí que eu juntei alguns amigos e comecei a fazer ações culturais aos domingos, a cada 15 dias, para as crianças do bairro, para a gente começar, por meio da arte, mudar o cenário que estava vivendo de violência.”
Leia mais sobre cultura aqui.
Alto potencial
No começo, o Instituto Dom, além das atividades culturais, tinha a ideia de desenvolver um veículo de comunicação para mostrar exatamente esse outro lado do Dom Bosco. “Para mostrar que o bairro não é apenas violento. Que aqui dentro tem pessoas com alto potencial”. Depois, outras instituições, como a própria UFJF, a prefeitura, a Polícia Militar foram sendo incluídas no projeto, e outras ações começaram a ser realizadas, inclusive de teor educacional. A sede, do Chapadão, passou para o centro do bairro, com o intuito de assistir a todos. Além disso, Edmar passou a ir a outros lugares em busca de profissionalizar as atividades, o que foi essencial para que, durante a pandemia, o trabalho do instituto fosse também assistencial.
Um dos últimos eventos do Instituto Dom aconteceu em 2022. Durante uma semana inteira, através da Lei Murilo Mendes, o bairro recebeu atividades culturais e, no fim de semana, shows. Foram 20 artistas do bairro se apresentando, com estrutura de palco, luz e som adequados. O instituto acabou porque a sede precisou ser entregue à proprietária e, além disso, Edmar, cada vez mais, se viu entregue à música. “Mas nós geramos um grande impacto aqui. No futuro, quem sabe, volta. Mas foi um grande aprendizado. E a gente deixou a semente plantada para que outros jovens sintam a vontade de continuar com esse trabalho. Mostrar que é possível sair de uma comunidade e ocupar um espaço público como a instituição, a UFJF, trazer o que tem de bom lá para dentro da comunidade, e gerar esse impacto através da arte”. Ele não nega que tem vontade de fazer mais atividades culturais pelo bairro. Gosta de produzir. E é a forma que encontrou de retribuir o que o bairro fez para ele: esse encontro com a música que é, hoje, o motivo de tudo.