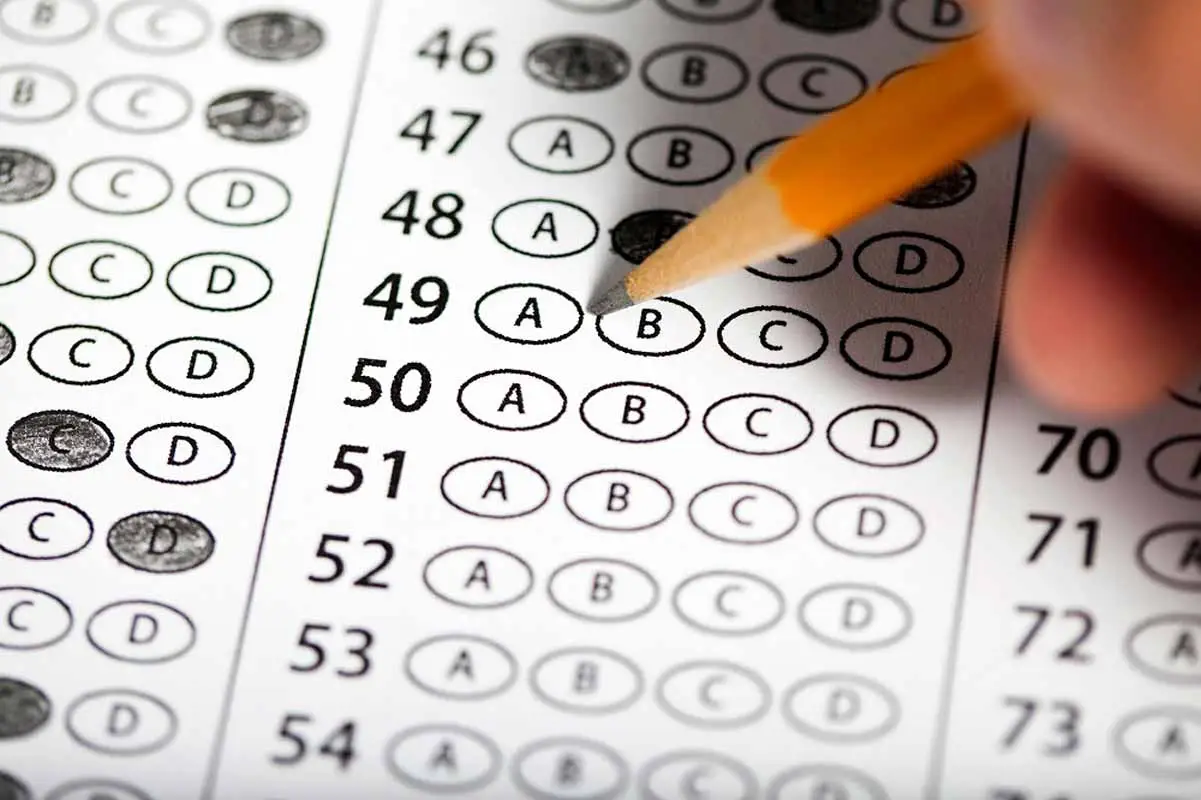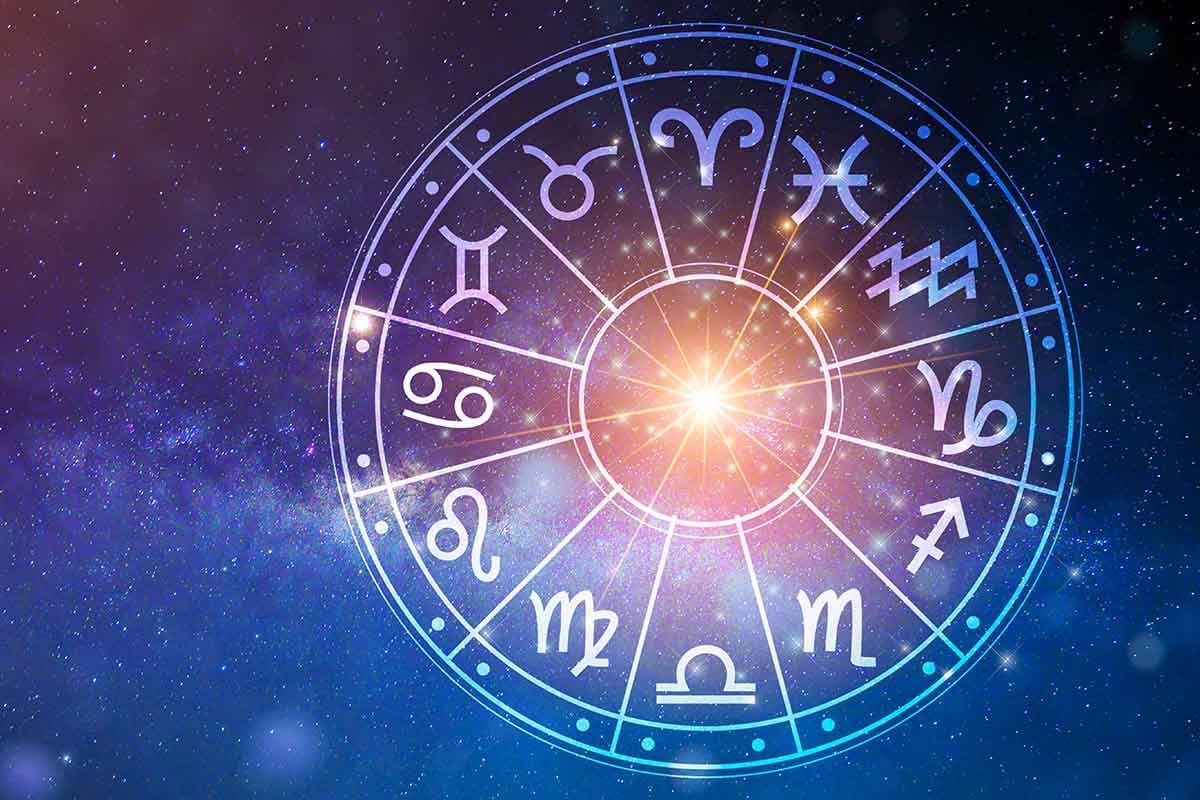Os matos baixos ainda existem: conheça as histórias do Bairro Grama
Moradores contam sobre o surgimento da comunidade, na Zona Nordeste de Juiz de Fora, que já foi chamada de Muçungê
Cristina Valle chega com um álbum recheado de fotografias. “Foto é engraçado. Abre tudo.” Uma por uma, ela vai mencionando: “esse é o Luiz Cláudio; esses são os pais e os avós dele; aqui era a sede, olha que bonita”. Boa parte do que está ali ela não viveu. Luiz Cláudio Procópio Valle, seu esposo, ainda era menino nas fotos. Mas, assim como ele, ela ouviu as histórias que envolvem o Sítio Paraíso e, por isso, consegue contar parte da história. “Tem muito documento aqui dessa época. Muita coisa guardada.” Cristina é descendente da família Freguglia. Vindos da Itália, primeiro foram para Três Ilhas, depois para Tapera Alta (onde é hoje os bairros Bom Clima e Bandeirantes) e, então, firmaram-se no Muçungê, onde continuaram a plantar.
Naquela época, o lugar não passava de um tanto de mato baixo (por isso, Muçungê) e uma estação com o mesmo nome. Os outros lugares foram aparecendo depois. Como foi o caso do Hotel Paraíso. Já Luiz Cláudio é da família Procópio Valle: imigrantes alemães, que também foram parar no Muçungê. “Agora, o motivo de meus bisavós terem parado aqui, não sei”, diz. Fato é que lá eles construíram o hotel: uma casa com 46 cômodos no estilo suíço, em um terreno imenso. O que foi o lugar, nessa época, só as fotos podem contar, porque a estrutura acabou por ceder, restando apenas uma ruína e todo o espaço verde ao redor. Luiz Claudio e Cristina, são a continuação dessa história de ocupação do que hoje é o Grama. São eles, descendentes das primeiras famílias do bairro, que guardam e perpetuam o começo, com carinho, nas fotografias muito bem guardadas.
Luiz Cláudio começa: “Dizem que aqui, antes de ser o hotel, era uma estrebaria da Estrada Real, onde se trocava de cavalo, lá em 1800. Não tinha a sede, só a fazenda mesmo. No começo do século, meus bisavós vieram, criaram o Paraíso. Logo depois, por causa da guerra, ele foi fechado. No final de 1930, muitos hóspedes vieram. Com a guerra, foi diminuindo. Dizem que isso foi um hotel por causa dos hospitais de tuberculose, dizem. Mas como tinham dois hospitais no bairro e, por ser fora de acesso, acho que meu bisavô e meu avô tinham a intenção de acolher os familiares de quem vinha para internação. O sonho deles foi morrendo com a guerra, assim como morreu muita gente”.
Tempos depois, o pai de Luiz Cláudio reabriu o espaço, transformando-o em clube devido ao seu tamanho e às opções de lazer que ali tinha. “Eu nasci no Centro e vim para o sítio no mesmo dia.” Ali, ele cresceu. O sítio se manteve do mesmo jeito por um bom tempo. Já o Bairro Grama foi ganhando, aos poucos, cara nova. “Quando nasci tinha cinco casas no máximo. Minha casa era grande e era cheio de lugar para brincar. A gente vivia cheio de amigos brincando. Tinha uma turminha de uns dez amigos mais íntimos, que ficava aqui o dia inteiro”, lembra Luiz Cláudio, que, hoje, tem 60 anos.

‘Morar no paraíso não é fácil, não’
Luiz Cláudio teve a oportunidade de ver a sede ainda de pé. Mas um inquilino não conservou os telhados, que caíram e derrubaram as paredes. “A gente não tinha acesso, e isso foi fatal. A casa caiu, e foi chocante perder uma coisa que foi criada por mais de uma geração. O prédio tinha acompanhado o crescimento de Juiz de Fora e de Grama, mas agora é a propriedade que acompanha.” Mais recentemente, ele reabriu o espaço, transformando-o em um restaurante, ainda com o nome de Sítio Paraíso. E é ele, junto com a Cristina e seus filhos, que cuida de tudo para manter tanto o negócio quanto a tradição de pé: “Morar no paraíso não é fácil, não”, brinca.
Luiz Cláudio acha engraçado porque, naquela época, não achava que o Grama se desenvolveria, chegando à estrutura que possui hoje. “Uma minicidade”, diz. É que o ambiente era tão familiar, de pessoas tão próximas, que era difícil pensar nessa configuração. O crescimento foi tanto que essas histórias do começo acabam ficando guardadas apenas às famílias mais tradicionais e poucos sabem como o bairro surgiu. “Essa história toda não é repassada. São três ou quatro famílias aqui: os Freguglia, os Ferrugini, a nossa, e mais umas duas ou três que são tradicionais. Vieram para cá e passaram um pouco para os filhos, mas eles se envolvem no trabalho e acabam não tendo esse hábito de repassar a história, que vai morrendo. É triste.”

Outra geração
Ao mesmo tempo, tem um movimento de recuperação do Muçungê. Hoje, bem na praça, um grafite estampa esse nome, recriando como era a estação, já que sua estrutura também não existe mais (no lugar, foi construído um mercado). Esse grafite foi feito durante o Festival União Cultural, que aconteceu em abril deste ano, no local. Negro Lee foi um dos organizadores e conta que fazer um grafite com o Muçungê em destaque tinha a intenção de gerar curiosidade. “Muita gente veio perguntar: ‘Que casinha é aquela que vocês fizeram?’. Tem morador mais antigo que lê a palavra Muçungê e assimila seu significado, já os mais novos não têm essa informação.”
Negro Lee já é de uma outra geração. Quando nasceu, o bairro já tinha mais coisas. “Tem umas memórias que eu tenho: o chão todo de pedra ali na nossa rua. Tenho uma lembrança vaga dessa época antes da pavimentação. Era muito mais verde, minha mãe fala. Hoje, você vê muito verde. Grama é um bairro que é um pouco mais frio e acredito que, por isso, é muito arborizado.” Ele conseguiu brincar na rua e é essa sua melhor lembrança. “Era pique-pega, pique-esconde, era futebol, estourando o dedão no asfalto todo dia, era soltar pipa e bolinha de gude. Sentar na calçada e ficar conversando até a mãe chamar”, enumera.
Fazendo a cama para novos artistas

Isso foi se perdendo aos poucos com esse crescimento. Outra coisa que acabou por se perder foram as atividades culturais. É engraçado que, desde cedo, ele tinha o desejo de resgatar essa parte. “Eu e o Maloka (amigo de infância que também idealizou o festival), desde o fundamental, falávamos que tinha que fazer alguma coisa no Grama. Falava: ‘Imagina a gente fazendo evento. Imagina botar um palco na praça. A gente cantando lá’. Porque a gente já viu isso acontecer. Só que imaginávamos, já naquela época, a gente à frente daquilo lá, sem ter a menor noção de quando seria e como seria. E eu via que era isso que queria deixar como legado: quero fazer a cama para aparecer novos artistas.”
A arte, em sua vida, foi se concretizando aos poucos. Primeiro, em poesia, por influência de uma professora. Depois, o rap, pelos Racionais, ouvido por seu irmão. A junção da poesia com a música veio nas Batalhas de MCs. Ele precisou sair do bairro para conhecer. “A gente foi percebendo que era necessário criar o nosso movimento. Porque, em Juiz de Fora, as coisas são muito centralizadas. A gente sabe quantos amigos do bairro fazem música e que só falta espaço para se apresentarem. E a história foi mudando, porque, antes, a gente estava fazendo para criar um movimento nosso e viu que é muito maior do que isso, desde a primeira batalha que a gente fez. Nela, a gente pegou uma caixinha. Uma não, três. Uma descarregou e foi para a outra e só no gogó: eu no gogó, os MCs que estavam rimando no dia só na voz, sem microfone. A gente juntou 150 pessoas assistindo.”
Novos rumos de Grama
Negro Lee passou a entender que os encontros teriam que ser recorrentes e até maiores, e o União Cultural veio disso. “A criançada encheu a praça na União Cultural, soltando pipa, correndo, jogando bola. Ver que a maioria do nosso público é infantil é importante, pois queremos trabalhar a base. Claro, eu tenho o entendimento que é um evento de crescimento por etapas.” Aos poucos, a aceitação também vai crescendo. No União Cultural, ele acabou chorando por ver que os frutos já estão sendo colhidos. “Poder mostrar para essa molecada, desde cedo, algum tipo de atividade, mesmo que ela não vá se tornar artista, mas ela ter acesso à cultura, à literatura, para curtir, já dá um norte diferente. Isso é importante, pois vi que muitos tinham talento. Teve um menino que cantou no nosso evento que, dada as condições que a sociedade impõe, tinha total chance de ir para o outro lado, mas estava ali cantando, a mãe dele assistindo embaixo, foi lindo, eu me emocionei muito.” Agora, Negro Lee ajuda os artistas de Grama a entrar em editais para que o movimento continue a crescer.
“As pessoas têm a imagem de um bairro perigoso. Já foi um dia, de fato. Mas ficou essa fama. O Grama é muito mais que isso hoje em dia, e a gente quer mostrar. Que seja visto como um bairro que tem cultura.” Ele conta que ainda tem muito muro em branco para ser grafitado. “Queremos continuar contando a história de Grama. O Hotel Paraíso é incrível, a gente quer falar do hotel”, finaliza.