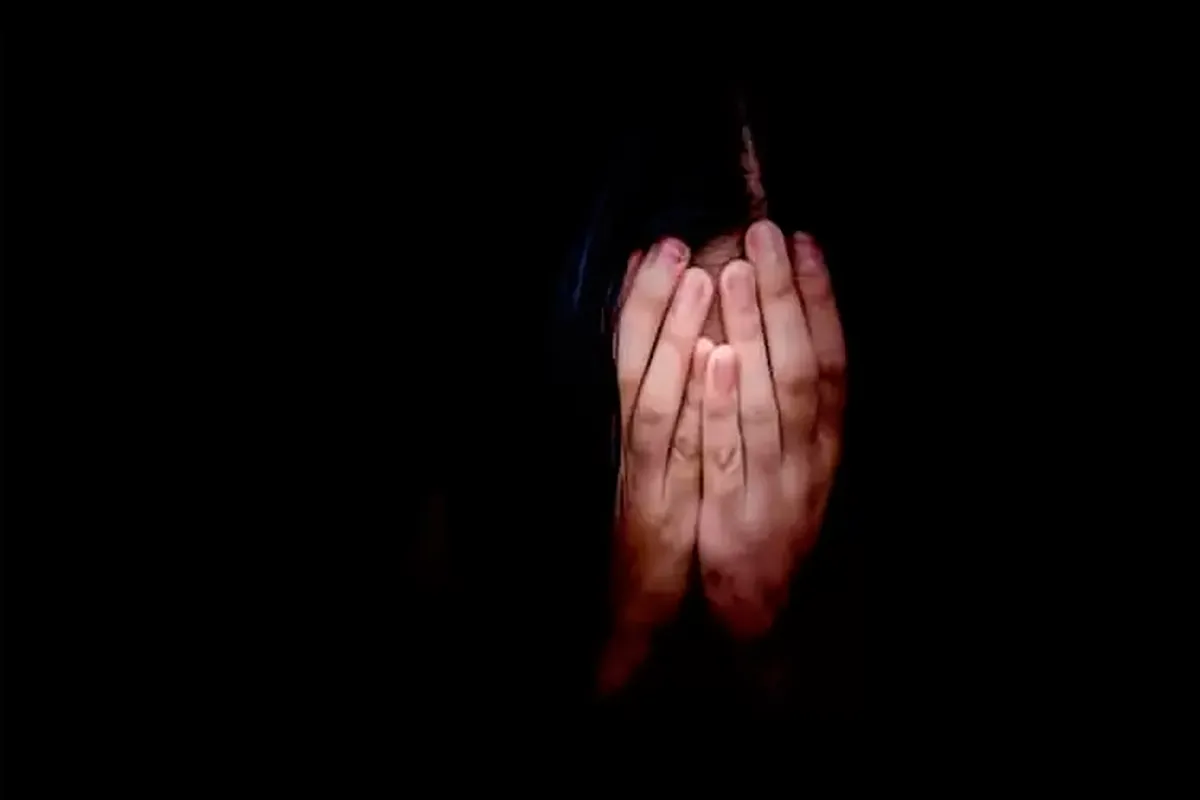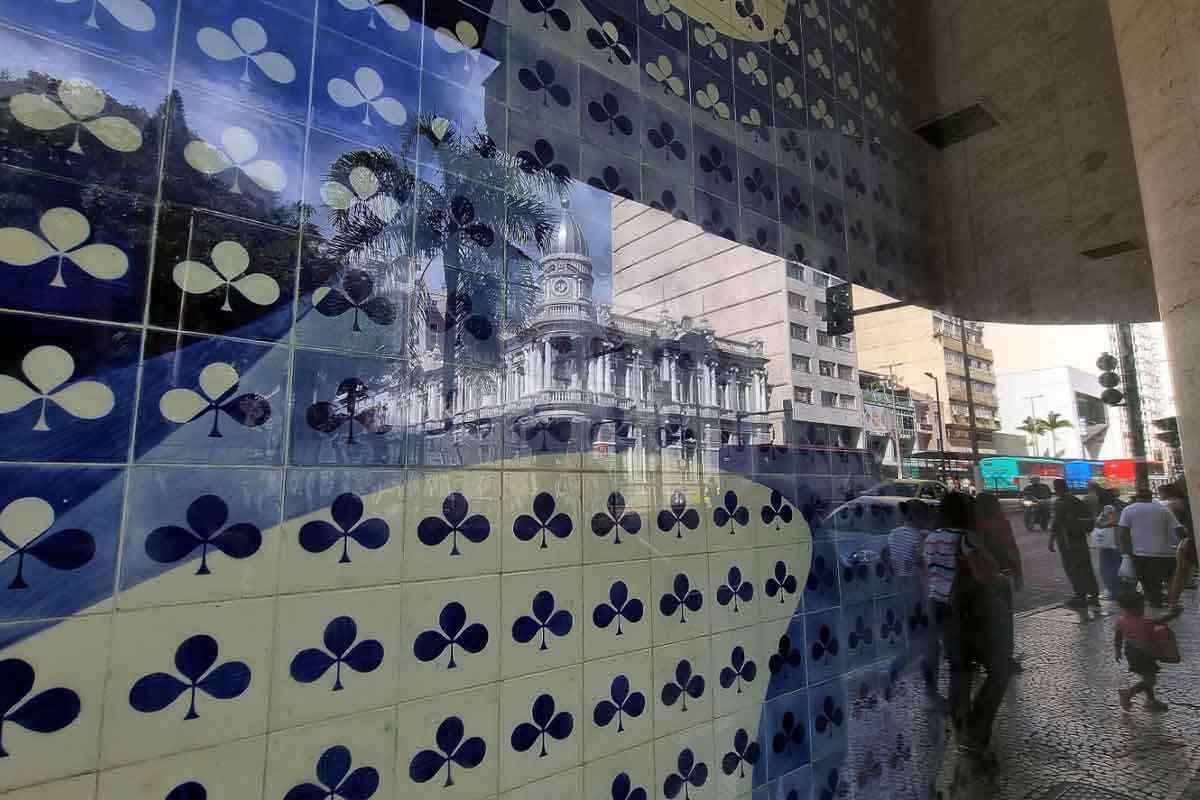Em pesquisa, mais de 85% das jornalistas afirmam sofrer preconceito na cobertura esportiva
Dados expostos em TCC de ex-aluna da UFJF reforçam o machismo contra as mulheres no jornalismo esportivo
Cerca de 50 anos após a luta e a consequente inserção das mulheres no jornalismo esportivo no Brasil – antes da década de 1970, a atuação feminina na área era rara -, o machismo manifestado através do preconceito e do assédio ainda persiste nos ambientes de trabalho, nas arquibancadas, entre atletas, comissão técnica e consumidores de informação. Segundo pesquisa realizada pela jornalista Renata Cardoso Nassar, em seu trabalho de conclusão de curso (TCC) “O assédio no jornalismo esportivo: o cotidiano das jornalistas e o machismo praticado pela imprensa”, 96,55% das profissionais entrevistadas afirmam que o preconceito é uma realidade entre as mulheres que atuam na área. Do total, 86,65% contam já terem sofrido preconceito em algum momento da carreira, sendo o assédio o principal tipo de constrangimento (38,46%).

Citando as pioneiras no jornalismo esportivo brasileiro – como a repórter Maria Helena Rangel, que escreveu sobre vôlei e basquete para a Gazeta Esportiva na década de 1940, a fotojornalista Mary Zilda Grassia Sereno, que teve sua foto publicada em um jornal em 1934, retratando a comemoração de uma freira italiana durante a Copa do Mundo, até as narradoras Luciana Mariano e Vivi Falcone, duas das primeiras contratadas para o cargo no Brasil – Renata Nassar faz uma linha do tempo com destaques femininos na área, da antiga à nova geração. Em referência a essas décadas, não faltam documentos e relatos das dificuldades enfrentadas por essas mulheres em ocuparem seu espaço no mercado por conta de obstáculos criados pelo sexo oposto.
Segundo a pesquisa, as manifestações de machismo começam dentro das próprias empresas de comunicação, através de colegas de trabalho. “Como é o caso do jornalista Eduardo Bueno (Peninha) que falou com a jornalista Duda Streb, depois que ela fez um comentário (no programa Sala de Redação, da Rádio Gaúcha), que ‘ela deveria estar na cozinha. O que essa mulher está fazendo aqui?’. Muitas vezes os homens vêem a gente apenas como um objeto, uma pessoa que não tem capacidade para opinar sobre o assunto, principalmente o futebol, que tem raízes masculinizadas. As mulheres por muito tempo não puderam nem praticar esportes, quanto mais dar opinião. Agora que estamos conquistando espaço, temos que lutar ainda mais para ter a mesma voz que os homens. Não podemos nos deixar ser oprimidas”, destaca Renata, jornalista formada pela UFJF, que ingressou na faculdade pelo grande interesse em esporte, sobretudo o futebol.
As formas do preconceito
Para sua análise, a pesquisadora entrevistou outras 29 profissionais que atuam ou já atuaram no jornalismo esportivo. Destas, 30,77% destacam a insistência dos homens em querer demonstrar superioridade, tentando provar se as mulheres têm ou não capacidade de trabalhar na cobertura esportiva. O dado empata com a porcentagem de profissionais que percebem indiferença com relação à presença da mulher no local de trabalho. Outras estatísticas revelam os ataques nas redes socias como forma de preconceito (23,07%), além do preconceito dissimulado como elogio (11,53%).
Chamam a atenção episódios como o da jornalista Bruna Dealtry, beijada a força por um torcedor no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ); da repórter de TV Júlia Guimarães, asseadiada ao vivo em transmissão durante a Copa do Mundo da Rússia; da jornalista Aline Nastari, fisicamente assediada e agredida verbalmente por um torcedor embriagado, após título do Fluminense em 2012; e a repórter Roberta Oliveira, que enfrentou machismo expressado por outra mulher. Mas não são apenas as jornalistas que sofrem com o preconceito. A musa do Goiás, Karol Barbosa, também sofreu assédio ao vivo pelos apresentadores do programa Os Donos da Bola, em 2018. Frequentemente essas mulheres lidam com o constrangimento de provar conhecimento sobre esporte para legitimizar a profissão, e veem seu físico sendo mais destacado que o seu trabalho.

A voz feminina no mercado de trabalho
Relatos da falta de oportunidade no mercado de trabalho com igualdade em relação aos homens são recorrentes na pesquisa. O mais marcante deles é o da narradora Luciana Mariano: “Em um dado momento da minha carreira, eu estava narrando o Campeonato Pernambucano e, quando o campeonato acabou e os direitos foram comprados por outra emissora, esta deixou bem claro que não desejava uma voz feminina narrando. Então veio esse período de quase 20 anos sem que ninguém solicitasse uma narradora, a não ser em promoções ou concursos, mas não como profissional capacitada para narrar. Por isso, acho que foi o maior preconceito que eu sofri, porque me impediu de estar em atividade durante todo esse tempo como narradora, deixando nós, mulheres, com uma defasagem imensa em relação aos homens, pois eles nunca param de narrar”, conta ela em entrevista à Renata Nassar. Segundo o artigo, em 2018, Isabelly Morais, 20 anos, foi a primeira mulher no Brasil a narrar um gol em Copa do Mundo, no jogo entre Rússia e Arábia Saudita, pela Fox Sports. Ela foi selecionada através de um concurso da emissora, “Narra quem sabe”. Para a pesquisadora, a ocorrência de concursos ao invés de contratações também desvalorizam o trabalho da mulher.
Renata também ressalta que, além da mentalidade machista na sociedade, outro fator que pode impulsionar a resistência em aceitar as mulheres como colegas de trabalho é o medo dos homens em serem substituídos. “Existem muitos chefes homens e poucas mulheres. Inclusive quando se fala em diferença salarial, algumas entrevistadas dizem que, às vezes, a diferença acontece porque os homens ocupam cargos maiores. Então por que nós não podemos ocupar esses cargos? Temos capacidade para aprender e comandar, e estudamos os mesmos conteúdos. O cenário está mudando, mas ainda está longe do ideal”, avalia. Para a pesquisadora, a questão salarial vale ser aprofundada em novos estudos. Das entrevistadas, 44,83% acreditam que exista diferença salarial entre homens e mulheres no jornalismo esportivo. Destas, 38,46% afirmam não sofrerem distinção no veículo onde trabalham, mas creem que existam ocorrências; 24,14% do total acreditam que não há diferença e 31% não souberam responder.
‘Nunca sofri preconceito no esporte’
Editora da Tribuna de Minas e há 31 anos no jornalismo, Regina Campos iniciou sua trajetória no esporte, na década de 1980. Em sua experiência como repórter de campo, ela afirmou nunca ter sofrito preconceito por ser mulher na área. “Pelo contrário, dirigentes, atletas, técnicos e torcedores sempre me trataram com muito respeito. Acredito que quem milita no esporte tem uma cabeça bem aberta, onde não cabe este tipo de preconceito.”
À Tribuna, a jornalista conta, ainda, que no trabalho de cobertura dos jogos no Estádio Municipal chegava a entrar no vestiário do time local para entrevistas. Ela ainda recorda que sofreu “tratamento de maneira diferenciada ao atuar como repórter policial. Foram vários episódios de assédio e demonstrações de machismo.”
Uma das jornalistas mais conceituadas no esporte, Juliana Veiga, com passagens por SporTv, Band e ESPN, relata que não diagnosticou diferenciação por ser mulher nas empresas que trabalhou. “Acho que o preconceito vem mais de fora do que de dentro dos veículos de comunicação. Não vejo isso internamente, mas externamente, sim. Hoje em dia a mulher está muito presente nas emisoras em todos os setores.”
‘Esporte e cobertura esportiva não é só futebol’
Para Gilze Bara, que atua como professora de jornalismo esportivo há cerca de dez anos no Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (CES/JF), os dados expostos no TCC refletem a realidade brasileira. “Quando comecei, eu queria muito trabalhar com jornalismo esportivo, na década de 1990, e o número de mulheres que atuava na área era muito pequeno. Nunca fui desmotivada a trabalhar com isso. A única mulher que cobria esporte na cidade era a Regina Campos, que foi pioneira e cobria na beira de campo em transmissão dos jogos de futebol. A realidade não nos encorajava e, quando fazíamos algo de esporte, sempre tinha olhares. Vemos que aumentou a participação das mulheres no jornalismo esportivo nos últimos anos, mas ainda é uma mudança pequena”, avalia.
A desconfiança da capacidade feminina em ocupar os mesmos espaços que os homens é um dos pontos ressaltados pela professora. “Se chega um homem para comentar o tema, não irá ter dúvida (de que ele sabe do que está falando). A mulher que entende de esporte parece uma excessão e isso não é verdade. E é fundamental lembrar que não só há muitas mulheres que entendem de futebol, como esse também não é o único esporte que existe. Temos que ampliar a visão de que o esporte e jornalismo esportivo não é só cobertura de futebol”, destaca, reiterando, ainda que em todas as modalidades esportivas há predomínio de homens na cobertura, diferença acentuada no futebol.
Como professora, Gilze afirma nunca ter sofrido preconceito pelos alunos, mas se preocupa com o futuro das estudantes. Segundo ela, várias mulheres participaram da cobertura durante a Copa do Mundo realizada pela faculdade e muitas participam atualmente do Núcleo de Comunicação Esportiva do CES. “O que é importante é que elas tenham oportunidade no mercado de trabalho depois que formarem. Acho que esse momento em que estamos vivendo, de muitas mulheres batalhando pelo seu lugar, também está refletindo no esporte. As empresas estão percebendo que precisam dar espaço para as mulheres, porque o público quer. Lógico que não é todo o público, mas é um início.”