Poeta português tem livro lançado por editora juiz-forana
Com “Ubi sunt”, Manuel de Freitas inaugura “A Colecção”, selo dedicado à poesia portuguesa da Macondo Edições
Desgraça é um dos sinônimos para fatalidade, que deriva de fatal, por sua vez, algo inevitável. Recorro às páginas de um dicionário para explanar o termo com que o poeta e editor português caracteriza o passado. Em seu “Ubi sunt”, livro com o qual ele inaugura “A Colecção”, selo dedicado à poesia portuguesa da Macondo Edições, o ontem é incontornável e, portanto, desgraçado. Marcado pelas perdas, pelas inescapáveis perdas, trafega mais pela constatação do que pelo lamento. Daí o título em latim – Onde estão, em livre tradução – e os capítulos também divididos por termos na língua clássica – Hic (esta), et nunc (e agora) e et semper (e sempre).
Em “VGM”, nome de uma antiga loja de discos lisboeta, Manuel faz uma elegia a livrarias, cafés e lojas de disco que pouco a pouco desapareceram da paisagem. “Trouxe comigo alguns discos em saldo e a firme certeza de que Lisboa é hoje um deserto rudemente povoado por quase ninguém”, escreve, numa das mais belas metáforas do livro. Em “La reveuse”, dedicado à também poeta portuguesa Adília Lopes, suas perdas ganham em abstração: “Houve um tempo em que me apetecia escrever bem, enaltecer a dor.// Depois, fui-me esquecendo da dor e das palavras certas.// Agora é mais simples: despeço-me”.

Considerado um dos mais representativos nomes de sua geração na poesia de Portugal, Manuel de Freitas, aos 47 anos, possui mais de 40 títulos publicados, colabora com veículos da imprensa portuguesa e brasileira, atua como tradutor, livreiro e, ao lado da também poeta Inês Dias, dirige a Averno, editora de nomes como António Barahona e Jaime Rocha. Ao mesmo tempo em que escreve, em “Sombras”, “e a poesia era, de novo, a única luz”, o poeta também defende, em “Santarém, 12 de fevereiro de 2013”, que “Há, de facto, cidades tão mortas que nem um poema merecem”. Profundo conhecedor da poesia, Manuel domina a linguagem, a palavra e o gesto.
“‘Ubi sunt’ é um livro atravessado pela ausência. Insuflado por esta presença impossível de locais de fulgurosa qualidade de onde sobrou apenas a carcaça; de entes queridos já mortos que resistem na memória refletida dos que permanecem vivos; da memória da infância, o único refúgio possível debaixo das pálpebras”, define o escritor e músico Mariano Marovatto em posfácio do livro, publicado em Portugal por sua Averno em 2014 e revisado para a nova edição. Em entrevista, por e-mail, à Tribuna, Manuel escreve respostas no mesmo tom cortante e preciso de seus poemas. Fala de sua polêmica antologia “Poetas sem qualidade”, que ajudou a rediscutir os caminhos da literatura contemporânea portuguesa, e confirma as muitas semelhanças que ligam os países colonizador e colonizado quando os assuntos são versos e livros.
Tribuna – Qual análise faz da poesia atual produzida em Portugal?
Manuel de Freitas – Há, actualmente, grandes poetas a escrever em Portugal. Mas estou em crer que, nas gerações mais novas, se têm acumulado muitos equívocos, fenómenos de moda ou de marketing cuja relevância literária me parece bastante duvidosa.
Ao longo da história a poesia portuguesa sofreu grandes alterações? Há algum diálogo da produção contemporânea com textos antigos?
É próprio da poesia sofrer grandes alterações, embora a raiz linguística, no caso de Portugal, continue a ser reconhecível, sem mudanças lexicais ou sintácticas particularmente assinaláveis. Os melhores poetas contemporâneos, tal como aqueles que os precederam, dialogam quase fatalmente com textos anteriores. Basta pensar nos diálogos de Jorge de Sena, de Carlos de Oliveira ou de Sophia de Mello Breyner Andresen com Luís de Camões. Ou nos ajustes de contas que Mário Cesariny fez com Cesário Verde (louvando-o) ou com Fernando Pessoa (repensando-o). Destaco ainda o diálogo de José Miguel Silva com António Nobre e com Jorge de Sena, em toda a sua acutilante subtileza. Sem esse diálogo, explícito ou implícito, dificilmente a poesia contemporânea se conseguiria afirmar.
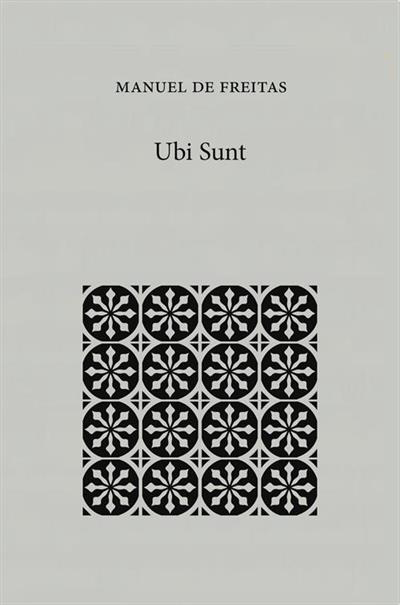
No Brasil vemos hoje uma produção muito potente e forte para além do cânone e fora dos grandes centros. Esse fenômeno é percebido em Portugal?
Temos uma noção um pouco difusa e parcial do que se está a escrever no Brasil, e confesso que boa parte dos poetas brasileiros mais aclamados não me entusiasmam. Dito isto, tenho alguma dificuldade em perceber o que é, hoje em dia, o “cânone”. Essa questão dos “grandes centros” parece-me uma falsa questão. Um bom poeta acaba por ser reconhecido, independentemente do lugar onde vive.
Identifica influências de outras literaturas produzidas na Europa na produção contemporânea poética de Portugal?
Isso teria de ser visto caso a caso. Eu não tenho uma visão muito optimista do actual panorama poético europeu. Aqui e ali, surge um poeta italiano ou francês ou inglês mais digno de interesse. Mas o panorama geral é frouxo, pouco dado a “influências”.
Como você e sua geração veem a poesia brasileira? Quais autores ou livros brasileiros têm espaço hoje nas prateleiras e nas casas portuguesas?
Obviamente, só posso falar por mim. Nas casas portuguesas, com raras excepções, nem poetas portugueses há. Pela parte que me toca, gosto sobretudo de Ana Martins Marques, Fabiano Calixto, Fabio Weintraub, Luca Argel, Pádua Fernandes.
Você organizou a antologia “Poetas sem qualidades”, um trabalho de muita potência e coragem. Como foi a experiência da recepção desse trabalho?
Parece-me um pouco excessivo falar de “coragem”. Essa antologia foi um desabafo estritamente pessoal acerca da situação lírica em Portugal no começo deste século. Apenas isso. Muitas pessoas entenderam-na como um manifesto, e não compreenderam a ironia inerente. Ficou o rótulo, que dá sempre muito jeito aos arrumadores baratos da historieta literária.
O que representa a qualidade hoje em Portugal? E de que forma esses poetas que você aponta dialogam entre si?
A qualidade, sem ironia, é conseguir um timbre próprio. Em poesia, como em qualquer outra arte. A maior parte dos poetas incluídos na antologia não dialogam entre si.
“Ubi sunt” foi publicado inicialmente em 2014, em Portugal, e revisto para a nova edição, no Brasil. Como foi reler esse livro cinco anos depois? O que mudou?
Não mudou nada, em rigor. Os mortos continuam mortos. Talvez tenha mudado o meu olhar sobre o livro, agora que já não o sinto meu, que o olho à distância. Encontrei-lhe uma unidade maior do que a que me parecia ter há cinco anos. De resto, quase não fiz emendas.
Há um forte tom memorialista em “Ubi sunt”. Porque olhar o passado?
O passado é uma fatalidade, tal como o futuro. Mas o segundo pode não acontecer, ao passo que o primeiro aconteceu inescapavelmente e, por vezes, regressa.
No posfácio, o Mariano Marovatto afirma ser “Ubi sunt” um livro atravessado pela ausência. Concorda com a afirmação? Como articula essa ausência na linguagem?
Sim, há um lado claramente elegíaco nesse livro. A articulação é tão-só tentar dizer essa ausência. Não há métodos nem receitas.
Há muitas referências geográficas em “Ubi sunt”, mas um cuidado muito grande para que esses espaços sejam identificáveis aos que não os conhecem. Essa era uma preocupação sua? Existia um interesse por uma escrita universal?
O meu rigor descritivo, que assumo, não passa de modo nenhum pelo interesse por uma “escrita universal”. Assenta, quando muito, num aspecto quase pictórico.
Num dos textos do livro, “Fim de caso”, você conta de sua relação com a música de Dolores Duran. Há outras canções brasileiras que te atravessam?
Sim, claro. Tenho uma imensa admiração por Adoniran Barbosa, Cartola e Paulinho da Viola, interessa-me muito todo o repertório de choro, e, recentemente, comecei até a interessar-me por algumas gravações de Chico Buarque. Mas o meu disco preferido de música brasileira é de Abel Ferreira: “Chorando baixinho”.
Assim como a Macondo, sua Edições Averno é uma pequena editora. Como é a experiência de editar livros em Portugal?
Talvez se possa resumir a um prejuízo apaixonado, que teima em persistir.











