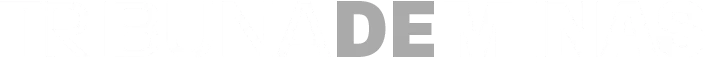‘Tiradentes esquartejado’: relembre história do quadro icônico do Museu Mariano Procópio
Tela de Pedro Américo traz imagem de violência e o sofrimento da figura histórica; contexto histórico da república ajuda a entender obra

Em 21 de abril de 1792, o revolucionário mineiro Tiradentes foi executado em praça pública por traição, em cerimônia oficial. Somente a partir da proclamação da república é que essa figura passou a ser revisitada e ganhou o título de herói nacional. Essa história está intimamente conectada à criação do quadro “Tiradentes esquartejado”, de Pedro Américo, que é exposto no Museu Mariano Procópio (Mapro), em Juiz de Fora.
Em meio a um espaço cultural que tem o segundo maior acervo do período imperial, a imagem de violência e o sofrimento da figura histórica causam estranhamento, medo e curiosidade. Quase todo juiz-forano se lembra de quando viu o quadro pela primeira vez. No feriado deste ano, relembre a história que fez com que a tela fizesse parte do acervo do museu, as escolhas estéticas por essa cena e a importância da tela para novas gerações.
O quadro chegou ao Mapro exatamente no ano em que se comemoravam os 100 anos da Independência do Brasil. Ele foi doado pela câmara de vereadores de Juiz de Fora após a fundação oficial do museu pelo Alfredo Ferreira Lage. “Essa tela é muito provocativa. Desperta muito estranhamento desde o momento que foi concebida pelo Pedro Américo, em 1893″, explica Sérgio Augusto, historiador do museu.
A obra foi feita quase 100 anos após a execução de Tiradentes, e justamente por um dos mais famosos pintores de momentos históricos do império. Pedro Américo é também autor do famoso quadro “Independência ou morte”, que retrata o grito do Ipiranga e exaltava a figura do Dom Pedro I. Mas, durante anos, a obra ficou em uma espécie de limbo, devido ao estranhamento que causava aos republicanos – e que ainda causa atualmente, mesmo em 2025.
A obra foi feita em pleno regime republicano, em um momento em que a república brasileira dava os seus primeiros passos. O Tiradentes acabava de ser escolhido como um herói nacional, por simbolizar algo da semente do movimento político de embate com os monarcas portugueses. Mas a tela mostrava algo diferente: Pedro Américo escolheu representar o Tiradentes aos pedaços, sugerindo uma violência muito explícita – o que não condiz com a representação de um herói, de um personagem que os políticos republicanos naquele contexto estavam querendo enaltecer como mito fundador da república no Brasil. “O Pedro Américo faz uma epopeia, uma narrativa épica da Inconfidência Mineira, mas uma epopeia fracassada. E que tem como desfecho esse violento esquartejamento. É uma narrativa que enaltece não o êxito do movimento, mas o seu fracasso”, ressalta Sérgio.
Pedro Américo se baseia, ao fazer esse quadro, em uma biografia escrita por um monarquista do século 19, o Joaquim Norberto de Souza Silva. “Ele havia escrito uma biografia do Tiradentes com um olhar um tanto quanto contaminado pela visão monarquista, que tinha uma tendência a esvaziar o potencial heróico do personagem. Ele vai, na sua biografia, falar de uma inconfidência mineira, de um movimento separatista fracassado, que tem como desfecho a morte e o esquartejamento do seu maior representante. Ele esvazia a carga revolucionária do herói e representa um Tiradentes mais como um místico religioso do que como um intrépido revolucionário, laico, imbuído de valores e ideias do iluminismo”, explica Sérgio.
É uma imagem semelhante à de Cristo, uma imagem muito mais mística e religiosa. “A professora Maraliz Christo diz que, além do Pedro Américo se basear na biografia escrita, também usa muito da nova tendência de pintura histórica na Europa. O modo de fazer pintura histórica no Brasil estava se tornando ultrapassado lá, e o Pedro Américo estava mais antenado a essas novidades europeias do que propriamente a essa tradição de pintura histórica brasileira.”
Um paradoxo no meio do museu
Mas já em Juiz de Fora, foi ficando evidente a importância da obra. Nem todos sabem, mas a disposição do corpo de Tiradentes naquela estrutura de madeira faz referência aos limites geográficos do território brasileiro, do mapa do Brasil. “Da cabeça até o pé temos o desenho do mapa formado. É uma analogia que o autor faz muito no sentido de associar a imagem do Tiradentes a imagem da nação brasileira”, explica Sérgio. Essa forte associação, para ele, também destaca um paradoxo que é evidente, ao observar que a obra, no museu que contém o segundo maior acervo imperial do país, parece destoar. “É quase que um paradoxo pensar que um museu que foi constituído por um monarquista, que foi o Alfredo Lage, que dedicou a sua vida à perpetuação da memória monárquica, tenha um quadro tão emblemático de um personagem que foi alçado à categoria de herói republicano.”
Para Sérgio, é possível conjecturar algumas hipóteses sobre os motivos que fizeram com que o quadro fosse exibido no museu: a vontade de Alfredo Ferreira Lage e de Juiz de Fora, como um todo, para que a cidade exercesse um protagonismo no cenário nacional e projetasse os valores da mineiridade, em um contexto de um país organizado no modelo federativo. Além disso, o autor também era conhecido como um dos maiores pintores oficiais da monarquia brasileira no que se refere ao gênero de pintura histórica, e por isso pode ter atraído Alfredo Ferreira Lage.
Outra curiosidade é que parte da recepção negativa ao quadro pode ter acontecido justamente por acidente, já que a tela não tinha sido concebida para ser isolada, mas para ser vista como parte de um projeto maior de série histórica sobre a Inconfidência Mineira que previa um conjunto de cinco telas. “’Tiradentes esquartejado’ seria a última tela. Só que ele começou pintando pelo desfecho da narrativa, e isso faz com que a recepção dessa tela seja feita de uma maneira um tanto distorcida e prejudicada. Se o Pedro Américo tivesse concluído essa série talvez teria tido outra recepção. Mas não foi esse o caso”, conta Sérgio.
Novas gerações
O quadro continua gerando controvérsias. Dentro do museu, Sérgio observa como a interação ainda é marcante. “O público mais velho tem uma memória afetiva com o quadro. Se lembram da infância quando visitavam o museu, e que era um encontro quase que traumático, muito marcante, por ser uma cena explícita de violência. Hoje em dia, as crianças continuam vendo essa imagem de maneira impactante, mas talvez menos do que décadas atrás, tendo em vista que a internet e as redes sociais trouxeram para sociedade uma certa banalização das cenas de violência”, explica.
Esse quadro, no entanto, muito conhecido nos livros de história, nas revistas e na internet, é importante de ser conhecido pelas novas gerações sob o ponto de vista crítico. “Não para enaltecer Tiradentes ou para reforçar uma história positivista, muito praticada ao longo dos anos e principalmente na ditadura militar. O quadro se faz importante como um vestígio histórico que deve ser lido criticamente, como uma construção histórica”, explica.
Para o historiador, a obra precisa ser vista e interpretada pelas novas gerações como um vestígio representativo da forma como a imagem do Tiradentes foi sendo construída como mito. E como o mito se constrói a partir desse repertório de imagens e como essas imagens estão a serviço do processo de legitimação de regimes políticos, de culturas políticas e uma série de intenções que estão por trás dessas imagens. “Hoje em dia, esse quadro precisa ser entendido do ponto de vista crítico e do processo de construção social e político do regime republicano”, destaca.
Tópicos: Mariano Procópio / museu mariano procópio / tiradentes