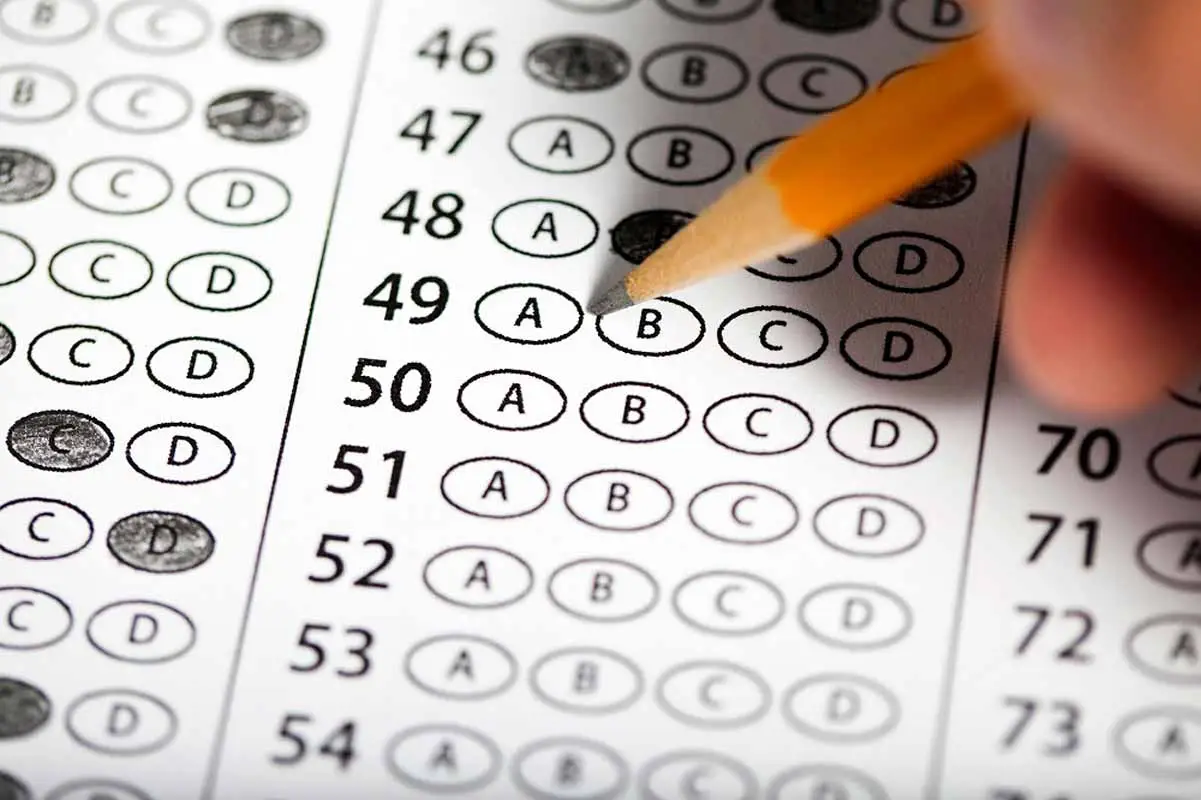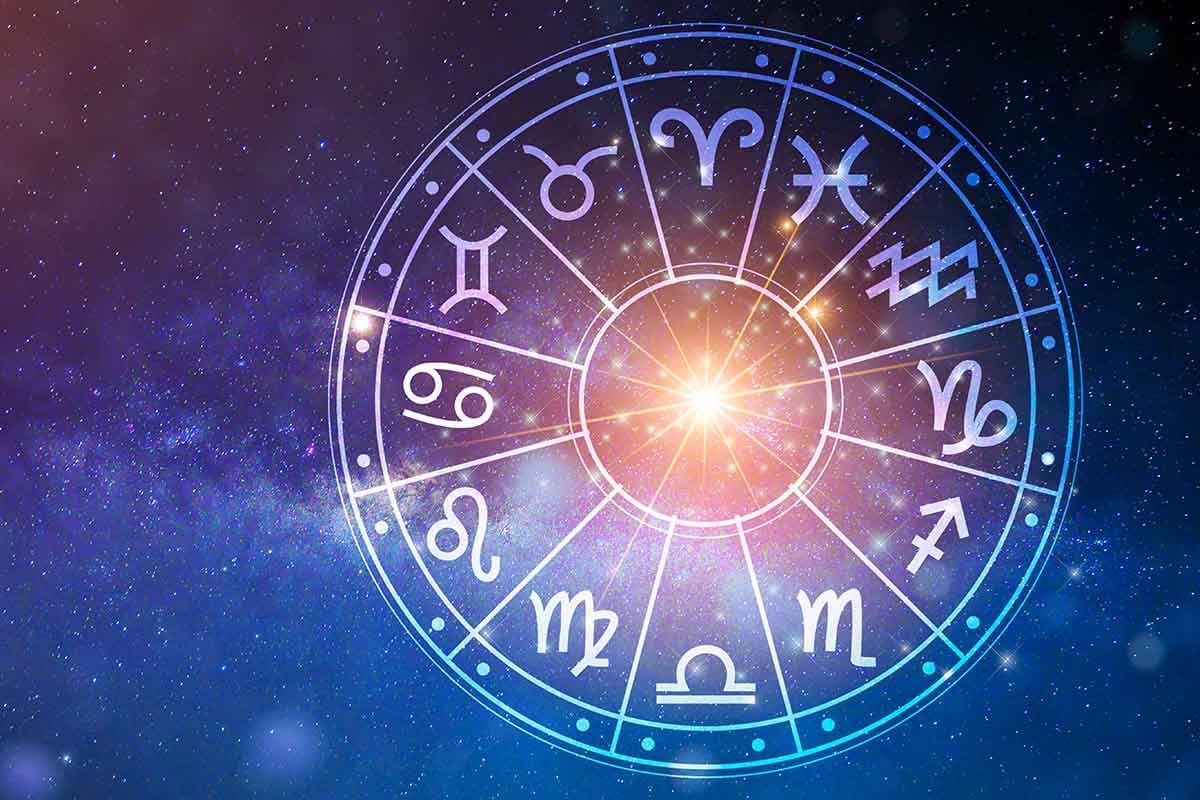São Benedito: das lavadeiras, das minas e do samba
Conheça as histórias do bairro, na Zona Leste de Juiz de Fora, que um dia já foi chamado de Arado
“Que vista, hein?” É esse o primeiro comentário que se faz quando se chega ao ponto de encontro das ruas Sebastião Costa e Domingos Adão – uma no Bairro Vila Alpina, outra no São Benedito, na Zona Leste de Juiz de Fora. O lugar é como um mirante mesmo, com um banquinho que possibilita desbravar até onde a vista alcança – e alcança longe. O paredão de Ibitipoca é o plano de fundo. “Eu fico vendo daqui uma quantidade de montanha e morro. Mas não sei exatamente o que eles são”, confessa Wallace Faria. Mas tem coisa que ele sabe bem. Sabe, então, o que realmente importa, porque é o que pertence, e aponta: “O São Benedito é a partir daquelas casinhas amarelas para cá. Isso tudo é São Benedito. Tem algumas divisões que a gente faz muito por ônibus: 430, 431 e 432, que são os lugares por onde esses números passam. No caso, o que tem distinção é o Vila Alpina, que é essa rua aqui. É um conjunto, apesar de ter diferenças. Atrás, ali, já é o São Bernardo. Aquele mercado é a junção entre o São Benedito, o São Bernardo e o Santa Cândida”.
Ele nasceu nesse lugar, nesse entroncamento de ruas e bairros que, no fim das contas, têm algumas semelhanças, sim. A vista, por exemplo, segue sendo parecida. Os costumes, também. E, mais que isso, a origem é a mesma: esse lugar, o antigo Bairro Arado, é o que deu origem ao que hoje é chamado de São Benedito e, então, ao que é também chamado de Vila Alpina. “É um bairro dentro do outro, né?”, afirma Vera Lúcia Aparecida Silva, abraçando a imagem do primeiro São Benedito que chegou ao bairro e ficou para sua família. É tanta história que esse lugar guarda, tanta coisa oculta e esquecida, que existe quase um método para relembrar: “Basta contar. É como matemática: vai sempre recordando”, confessa Luiz Gonzaga Basílio, o Lua, na porta de sua mercearia, depois de avisar à clientela: “Agora eu não posso te dar atenção. Vou falar sobre o bairro”.
Wallace, apesar de ter nascido e ainda hoje morar no bairro, não sabia, por exemplo, de um tanto de história sobre a origem e o desenvolvimento do São Benedito. Sabia que sua avó foi para lá há tempos e constituiu família e por ali todo mundo ficou, foi construindo casa. Mas, exatamente o que era ali antes de tudo, ele não sabia. Agora, sim, sabe. Isso porque ele participou do projeto do Coletivo Rumino, que desenvolveu o “Memória à vista”. A ideia, que foi aprovada pelo Edital da Funalfa, a Lei Murilo Mendes, foi ouvir as histórias dos moradores e, a partir desses relatos, pintar o que eles contaram em muros estratégicos pelo bairro. Eles aproveitaram que estavam em cada casa e gravaram um documentário sobre o bairro e, além disso, lançaram um livro.
Como morador, ele ficou encarregado de descobrir quais seriam as melhores pessoas para contar essas histórias. O processo foi, primeiro, perguntar dentro de casa, e as dicas foram surgindo. Ele ficou sabendo, então, da Praça das Lavadeiras, e do próprio trabalho das lavadeiras – exercido, inclusive, por sua avó -; das minas e das nascentes que, ainda hoje, marcam o lugar; dos primeiros loteamentos que ocuparam os morros; das festas que ultrapassaram as gerações, da ocupação dos prédios e das ruas. “Minha família falava das festas, dos eventos, do primeiro loteamento. A gente viu as primeiras ruas. Eu descobri, por exemplo, que, na época do ouro, aqui era um dos pontos de saída e entrada da cidade”, relata Wallace.

Construído pelo avô e pelo pai
Quem viveu isso, de certa forma, foi mesmo o Lua. Mesmo que não tenha vivido o início, essa história é coisa de família, está no sangue. “Eu nasci aqui. Estou há 68 anos aqui. Isso era tudo asfalto. Mas quem chegou mesmo foi meu avô. Essa casa aqui era uma mercearia. Ele morava nos fundos. Meu pai chegou com dois anos de idade. Meu avô veio para cá para explorar, vender alguns terrenos. As casinhas eram feitas de adobe. Pegava a madeira no Poço D’antas para fazer a construção. Meu pai fazia isso. E foram construindo as casas do bairro. Aqui eram duas ruas. Não precisava de descer nem de subir para chegar à rua São Lourenço. Só tinha essa e a Agilberto Costa.” Além disso, o lugar não tinha água encanada, mas esbanjava mina, onde os moradores, diariamente, se dirigiam para se abastecer.
Na época, não tinha asfalto. Ele lembra, então, um fato pessoal, mas que resume bem como era viver ali: “Aqui, quando estava chovendo, não subia carro. Eu lembro de quando minha mãe foi ganhar meu irmão, estava chovendo muito. Aí o soldado veio para ajudar os enfermeiros. A ambulância ficou lá embaixo e vieram buscá-la. O cara caiu para protegê-la e não deixá-la cair. Desceram com ela na maca até a ambulância”. Mas o bom mesmo era aproveitar isso e brincar na rua, ainda mais sem carro. “A gente jogava bola de gude, bola, pique esconde. De repente, a gente ia correr para comer na casa de um e brincava mais um pouco. Era bom demais.” Já quando Lua era mais velho, o Arado seguia com diversas formas de entretenimento: “Aqui era muito divertido. Tinha um filme gratuito para assistir todo fim de semana. Tinha o parque do palhaço Meio Quilo em que ele e a mulher dele, a Neca, faziam as peças”.
As coisas foram mudando, mas ele seguiu ali, no mesmo ponto, na São Lourenço, na mercearia, a herança que veio de avô para filho e neto. “Meu avô deixou de ser polícia em São Paulo para ter mercearia em Juiz de Fora, no São Benedito. Meu pai era polícia e comerciante. E era construtor, porque ele fazia a casa e te entregava a chave. Isso tudo aqui é dele: ele pegava o terreno, construía a casa e entregava.” O próprio Lua já trabalhou em outros lugares, mas viu que o negócio mesmo é a mercearia: ficar ali atendendo a cada um, conhecendo as histórias que são até dele. “Tem gente que conheceu meu avô, que vem aqui e conta coisa que eu nem sabia”, diz, em seguida aponta para cada uma das casas, mostrando que são, majoritariamente, as mesmas famílias, desde o início de tudo.

“Era mato e trilho”, mas tinha samba
Uma de suas maiores saudades, para além dos parques de diversão, dos circos e do cinema, é o Parque das Lavadeiras, lugar onde hoje funciona uma das escolas do bairro. E, sobre ela, Lúcia consegue descrever exatamente. Ela também mora ali desde sempre. E pelo mesmo motivo de Lua: quem chegou foi sua avó. “Minha avó foi a segunda moradora do bairro. Ela foi criada com os Barões de Aquino. Ela se casou na Avenida Sete e veio para o morro. Aqui não tinha nada. Era mato e trilho. E aqui minha avó ficou e estamos aqui”, sintetiza a história. Ela tem uma série de documentos, fotos, homenagens da família que guarda com carinho. Um deles data de 1926, o mais antigo que acharam, lá ainda consta Bairro Arado. Ela e Kênia, sua filha, mostram e contam cada detalhe. “Quando a gente sente saudade, olha para isso aqui”, afirma Lúcia.
E, então, ela conta das lavadeiras e das águas: “Água, a gente não tinha. Buscava lá onde é o colégio hoje. Era uma biquinha saindo água, uma pedrinha no chão. Tinha mato, grama, e a gente colocava as roupas lá em cima. Tinha uma pedra grande usada para bater a roupa”. Não tinha luz também. Mas nada disso era impedimento para as festas. “Meu avô colocava tocha com luz e fazia festa. Lotava o tacho de doce.”
Sua mãe foi a primeira baiana do Castelo de Ouro, a escola de samba do bairro, que deixa todo mundo, ainda hoje, cheio de orgulho. “Essa foto aí, minha mãe desfilou na terça-feira de carnaval e, na quarta-feira, eu nasci.” A outra filha de Lúcia foi a primeira baiana mirim da mesma escola. Mas, das lembranças guardadas, Lúcia gosta mesmo é da imagem de São Benedito. “Um cara, que a gente achava que era africano, trouxe uma imagem de um navio e deu para minha avó”. Ela cuidou mesmo sem saber que santo era aquele. Ele segue dentro de sua casa. “E daqui não sai. Esse santo é milagroso. São Benedito é o dono da cozinha. Não tiro daqui nem empresto, pois toma conta da nossa casa. Minha avó falava: ‘Quem manda na minha casa é São Benedito. Ele não me deixa ficar com fome nem meus meninos’. Nós nunca passamos fome por causa dele. A fé dela nesse santo foi tanta que nunca dormimos com fome”, acredita.
“Hoje o bairro está muito grande. Tem tudo aqui em cima. Para comprar um pão, a gente tinha que ir à cidade. E descia a pé. Hoje está povoado, está bonito. A Mata do Poço D’antas está iluminada. Quem diria. Minha mãe ia lá todo dia buscar lenha. Sem contar as cobras que tinham lá”. Só sobre o Poço D’antas, inclusive, dá um livro inteiro. As lendas e os fatos que circundam o lugar, ainda hoje, habitam o imaginário dos moradores. E, de tantas histórias, talvez tenha sido a que Wallace mais gostou de ouvir. “O pessoal falava que lá, onde costumávamos brincar, ouviam-se vozes, e os pais falavam que tinham coisas perigosas lá”, conta, como uma lenda universal do bairro.
Comunidade enraizada
Mas, no fim das contas, fazer esse projeto dentro de seu bairro foi, para Wallace, uma oportunidade de se sentir ainda mais pertencente ao seu lugar. “Eu valorizei muito ter nascido aqui, depois do documentário. Sou muito enraizado”. Isso de se sentir enraizado é sentimento compartilhado pela maioria dos moradores. Para Lúcia, tem um motivo: “Eu já mudei daqui um monte de vezes. Mas, meu umbigo está enterrado aqui, que é o meu lugar mesmo”. Para Lua, tem outra coisa: “Esse bairro é acolhedor. Vem gente de todo lugar. E, quando chegam aqui, todos são acolhidos. E aí as pessoas se apegam”.
Wallace, que é artista, entende que é eternizando isso que tantas memórias ficam resguardadas. Foi um processo iniciado com o “Memória à vista” que não se esgota. Ainda hoje, depois desse trabalho, ele passeia pelas ruas e, nas conversas, descobre mais um capítulo da história do bairro. E enxergar o que significa esse sentimento de se pertencer a um lugar, é coisa que ele descobriu, também, por causa da arte. E seu convite é que cada vez mais pessoas conheçam o São Benedito. “É para vir com o coração aberto.”