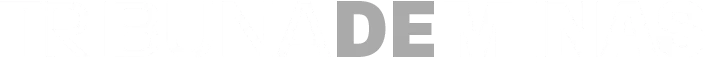A vida e a luta por reconhecimento das comunidades quilombolas na Zona da Mata
Censo Demográfico divulgou pela primeira vez os dados da população quilombola no Brasil; lideranças das comunidades do Paiol (Bias Fortes) e Namastê (Ubá) relatam detalhes das atividades de retomadas culturais e a luta por direitos
“O povo que conhece a sua história, esse povo tem uma identidade”, destaca Maria de Lourdes Souza Silva, 39, descendente de pessoas que foram trazidas do continente africano para o Brasil na condição de escravizados e moradora do Quilombo do Paiol. A Colônia, como também é conhecida, pertence ao município de Bias Fortes, a cerca de 90 quilômetros de Juiz de Fora. A comunidade carrega uma característica que lhe é peculiar: todos os moradores são negros.
Bias Fortes, de acordo com o Censo Demográfico divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2023, tem 833 pessoas que se declaram quilombolas. O município tem, também segundo os dados do Censo, 3.361 habitantes, ou seja, cerca de 25% da população total é composta por quilombolas. Na Comunidade do Paiol “são pouco mais de 260 moradores”, conta Roselaine Maria da Silva, 34, profissional da área da saúde e moradora da Colônia.
A Colônia do Paiol, conforme relatos repassados oralmente de geração para geração, começou em 1889, quando José Ribeiro Nunes, dono das terras, doou um pedaço de chão para nove ex-escravizados. “A tia Maria Osminda conta que eles – os ex-escravizados – vieram para cá simplesmente com a roupa do corpo e um burrinho, que tiveram até que comer porque não tinha nada. A realidade é que nós temos que relembrar e questionar: que liberdade foi essa? Eles ‘libertavam’ os escravizados mas não davam condições de começarem suas vidas. Mas graças a Deus eles resistiram e nós estamos aí”, relata Maria José Franco Santana, 44, professora e moradora da comunidade.

Reconhecimento tardio
Apesar de centenária, a Colônia do Paiol foi certificada pela Fundação Palmares apenas em 2005. O reconhecimento tardio não é uma exclusividade daquela comunidade, haja vista que as políticas públicas em prol da população quilombola no Brasil são igualmente tardias. Somente em 2003, no simbólico dia 20 de novembro (Dia da Consciência Negra), foi promulgado o Decreto nº 4.887, que “regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. O hiato deixou mazelas para muitas comunidades; no Paiol, não foi diferente.
“Nós já tínhamos esse conhecimento (de serem quilombolas). A questão era a vergonha de colocar esse conhecimento em prática. Em todos os lugares nós sofríamos preconceito: ‘as pretinhas vêm ali’; tinha uma separação específica e ficávamos incubados nesse lugar. ‘Os colonenses tão ali’. Antigamente ninguém gostava de falar que era preto praticamente, e muito menos que era da Colônia, porque já era superdiscriminado”, recorda Maria de Lourdes. Com o reconhecimento da comunidade e com as políticas públicas implementadas, sobretudo da educação e do resgate da cultura, a forma de encarar o preconceito mudou para essas mulheres quilombolas.
“A certificação veio nos dar também uma autonomia de podermos estar em qualquer lugar que quisermos estar, que quisermos ir. Isso mudou a visão da comunidade. A comunidade era discriminada, mas ficávamos acuados. Quando eu fiz o curso de educadora popular, eu passei a entender. Por isso eu falo que o conhecimento é capaz de abrir o leque para entendermos a nossa vivência. Eu sinto a diferença de quando passo a amar a minha história, a conhecer verdadeiramente a minha história”, reitera a própria Maria de Lourdes. “É sobre valorização, autoestima, reconhecimento. Quando se fala dessa certificação é que a gente vem entender realmente o que é ser quilombola”, completa Maria José.
Fundadores
Hoje, a retomada da cultura quilombola e a história do local é repassada aos pequenos na Escola Municipal Prefeito Joaquim Ribeiro de Paula, a instituição de ensino que fica na comunidade. Logo na entrada do colégio, é possível ver o nome dos nove ex-escravizados que começaram a comunidade: Camila Parda, Maria Creola, Justiniano, Sebastião, Justino, Quirino, Gabriel, Tobias, Adão. Todos os nomes escritos à mão.
Mulheres ao trabalho

O Programa Brasil Quilombola, que promove a “Agenda Social Quilombola”, foi instituído apenas em 2007 pelo Governo federal. A iniciativa prevê, por exemplo, inclusão produtiva e desenvolvimento local. Conforme Maria José, avanços têm sido conquistados através da ação. A Colônia do Paiol vai inaugurar em breve o Centro Social, para atividades de desenvolvimento sustentável, que priorizará as mulheres – a maioria delas ainda não trabalha. “No Centro Social teremos um fogão social para prepararmos nossos doces e bolos para venda. Vai ser um restaurante também para acolher os turistas que vierem”, conta Maria José.
A promoção de atividades econômicas para as mulheres vai permitir que elas possam trabalhar na própria comunidade, como acontecia em grande proporção com as mais velhas da Colônia do Paiol. Carmen Ana de Jesus Silva, 60, Marta Maria de Fátima, 62, e Nivalda de Fátima Pereira, 63, viveram na pele a necessidade do êxodo para ajudar os familiares. Ainda criança elas trabalharam como domésticas e também em plantações de café e arroz para ajudar em casa. Tudo antes do casamento. Depois, praticamente se dedicaram aos filhos. Carmen ainda foi agente de saúde na comunidade em Bias Fortes. Marta, por sua vez, trabalhou também como merendeira da escola da Colônia por 30 anos. Aposentou-se lá. Antes, no entanto, era diferente.
“Eu comecei com 10 anos em casa de família. Uma casa de 13 cômodos, duas crianças. Lavava, passava, cozinhava. Mas a gente ia porque no meu caso éramos nove irmãos e os nossos pais não davam conta de tudo”, relembra Nivalda. “Nós estudamos pouco, tivemos que sair da escola para trabalhar. Eu saí da escola aos 13 anos, antes de terminar a quarta série, para trabalhar na plantação de eucalipto. Depois fui para Belo Horizonte, fiquei 11 anos trabalhando lá. Aqui não tínhamos como ganhar nosso sustento”, relata Carmen.
Educação abre mentes e caminhos
Ao passo que lamentam por não terem tido a oportunidade de estudar, as sexagenárias se orgulham em ter pavimentado o caminho para as mais jovens. “Nós não tínhamos a quarta série, agora elas têm mais oportunidades”, ressalta Marta. A luta das mulheres em prol da educação na comunidade é tão marcante que Maria José se emociona ao relembrar Luiza Maria, mulher que cedeu parte do seu terreno para a construção da escola na comunidade quilombola. “Esse pedaço de terra é de onde eu tiro o alimento para os meus filhos, mas eu vou doar esse terreno porque eu entendo a importância da educação para o nosso povo”. A frase, merecidamente, ganhou página em um livro.
A escola, com muitas referências negras pintadas na parede, trabalha para o resgate da cultura quilombola e das próprias demandas da comunidade. As crianças aprendem quem foram os pioneiros na localidade, a importância da mulher que dá nome à sala de leitura do colégio, além de terem atividades que marcam a cultura dos africanos que foram trazidos para o Brasil e por aqui tiveram que se virar. Maria José hoje trabalha o maculelê e o congado com crianças e adolescentes no Paiol. “O maculelê hoje na comunidade é feito por mulheres; e tem os meninos na congada. Eu trabalho o congado e falo da Nossa Senhora do Rosário, que é nossa padroeira e protetora. E o maculelê veio mais porque representa resistência e luta do povo. Isso tem tudo a ver com esses nove ex-escravizados que vieram para cá e resistiram”.
Cristãos
Em relação à religiosidade, Maria José conta que a maioria dos quilombolas são católicos. Há os fiéis protestantes. Por outro lado, manifestações de religiões de matriz africana são quase inexistentes, restaram apenas poucas benzedeiras. No entanto, a capela de Nossa Senhora do Rosário recebe, sempre em novembro, a “Missa afro”. “A missa afro é realizada na Festa da consciência negra, aí tem os cantos afros, o ofertório é cantado, o jongo é dançado na igreja, o congado”, descreve a professora, enquanto conversávamos todos dentro da capela, sob as imagens de São Benedito, Santa Efigênia e Santo Antônio do Categeró, santos negros que ornamentam o templo.
Políticas públicas
De acordo com o Censo, o Brasil tem 1.327.802 pessoas quilombolas. Minas Gerais é o terceiro em número de pessoas, com o total de 135.310; desses, 5.630 estão na Zona da Mata e Vertentes. O censo demográfico para estimar a população quilombola no país estava previsto desde o Programa Brasil Quilombola. Apesar das políticas públicas para essas pessoas estarem oficialmente publicadas há pelo menos 20 anos, a luta e o acesso aos direitos é um pouco mais recente.
Na Colônia do Paiol, por exemplo, Maria José conta que o padre Djalma Antônio Silva chegou à comunidade a convite do padre Jonas – ex-pároco da Colônia – para a realização da sua pesquisa de doutorado, defendida na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2005. A Universidade Federal de Juiz de Fora também presta apoio à comunidade na busca por seus direitos. “O padre Djalma nos falou sobre esses direitos, dialogou para entrarmos com o processo no Incra – para o reconhecimento das terras. E através da Universidade tivemos esse conhecimento em políticas públicas.”
Em Ubá, uma comunidade quilombola urbana

A 180 quilômetros de Bias Fortes, em Ubá, a comunidade quilombola Namastê luta por seus direitos. Maria Luiza Marcelino, 65, toma frente nos diálogos políticos em prol da garantia de direitos conferidos aos quilombolas. A comunidade em contexto urbano foi reconhecida em 2009 pela Fundação Palmares. Maria Luiza conta que, primeiro, o Poder Público local ignorava os relatos da possibilidade da presença quilombola no local; depois, os próprios quilombolas tinham certo receio em se autodeclarar, com medo do preconceito, da represália e até mesmo da possibilidade de perdas materiais.
Persistente, Maria Luiza continuou seu trabalho, tentando convencer a população do entorno, mostrando a história do local onde residem, contando sobre as famílias e tentando, oralmente, resgatar as histórias. “Meu avô, que aqui recebeu o nome de Antenor Luiz, foi escravizado. Ele veio trazido da África para o Rio de Janeiro e, de lá, veio parar em Rio Novo. Sou a neta mais velha dele”, conta Luiza sobre seu ancestral.
Sentada no sofá da sala de sua casa, com batom de cor escura que realça seus lábios, Luiza recorda sua ancestralidade, a importância da luta pela população quilombola e a participação nos congressos e reuniões entre comunidades quilombolas. “Conheci Antônio Bispo, entre outras lideranças importantes”, recorda.
Em sua residência, Maria Luiza abriga um terreiro de umbanda de mais de 250 anos de resistência, passado de geração para geração. Ali, segundo ela, por toda história, foi possível mapear descendentes de quilombolas. Segundo o Guia de Cadastramento de Famílias Quilombolas, do Cadastro Único para Programas Sociais, “a autoatribuição da identidade quilombola é um processo de reflexão da pessoa que pertence a um grupo historicamente constituído e que reivindica sua identidade como membro desse grupo. É ele o descendente daqueles que construíram, no passado, as comunidades de quilombos”. Ainda conforme o Guia, “são as denominações dadas às áreas onde os quilombolas residem: quilombo ; terra de preto ; mocambos; terras de santo; comunidades negras rurais”.
Capoeira na escola
Em Ubá, segundo o Censo, 735 pessoas se autodeclararam quilombolas. Maria Luiza reivindica que são mais e volta a acusar o preconceito para outros que não fizeram a declaração. Serena, ela tem orgulho do trabalho que tem realizado. Hoje, o Bairro da Luz, onde a comunidade Namastê está situada, conta com uma escola que presta educação quilombola, a Escola Estadual Governador Valadares. “Lá os alunos têm capoeira, dança afro, teatro”; são elementos a mais para tirá-los da rua, ela afirma. Adjacente à luta em prol do reconhecimento da comunidade Namastê, Maria Luiza teve oportunidade de publicar o livro “Quilombola: lamento de um povo negro”. Diante de sua importância no movimento quilombola, ela também se tornou professora como mestre dos saberes na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
‘Vários sonhos’
No Paiol, as mulheres, em sua grande maioria, tocam a associação enquanto os homens saem para trabalhar na serraria em Bias Fortes ou em turmas que vão para outros estados, como o Rio de Janeiro, para ‘roçar’ fazendas. Ficam um tempo lá até que retornam para suas casas. São elas, portanto, em sua maioria, que guiam os sonhos por dias ainda melhores na Colônia, a partir da força do aquilombamento. “Vamos aí caminhando com vários sonhos, porque quando sonhamos juntos esses sonhos se tornam realidade”, conclui Maria José.