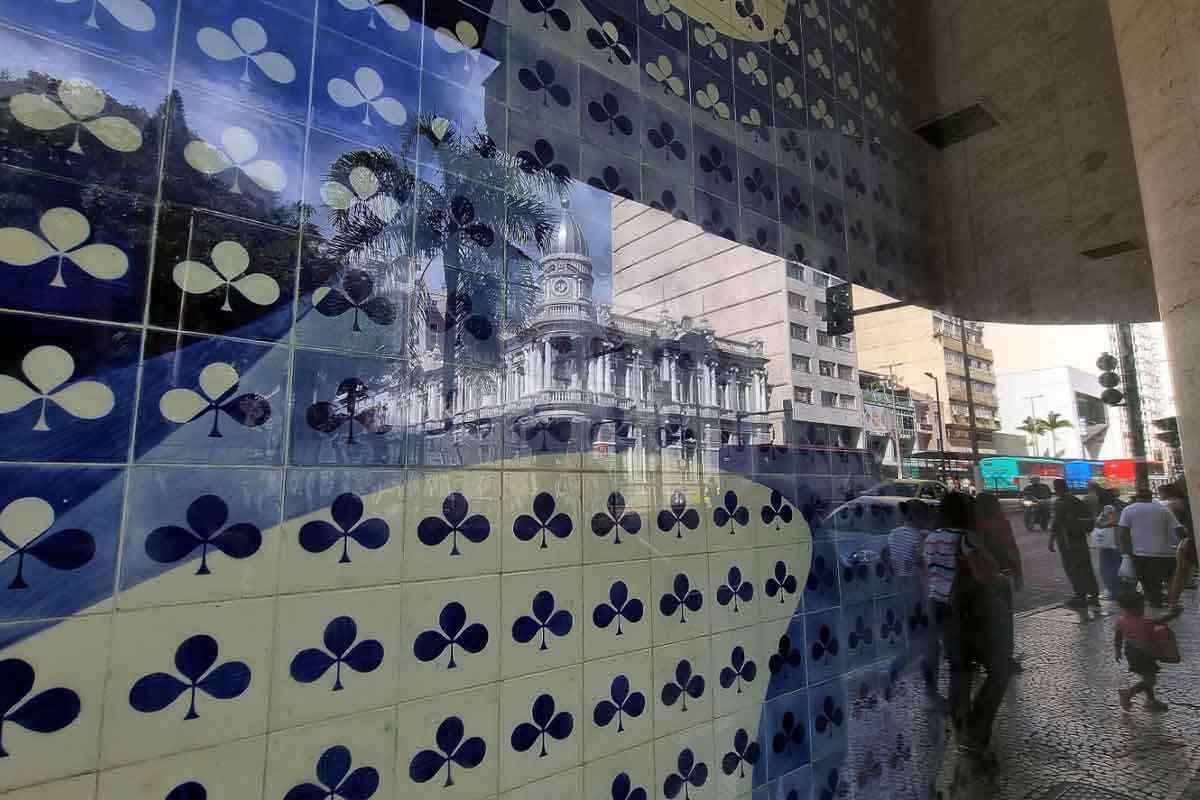O pensamento pacificador do ex-militar Rafael Santos na luta contra a violência
Militar em missões importantes, como a de pacificação da Maré, Rafael abandonou a carreira como sargento, graduou-se em direito e hoje intervém de outra forma, integrando o Coletivo Liberdade, pelos direitos da comunidade carcerária

Não era Pietá. Era como se fosse. A imagem que Rafael Silva dos Santos guarda na memória de seus 30 anos é a de uma mãe com o filho nos braços. A mulher com lágrimas nos olhos e o jovem com tiros na cabeça. Certamente, uma facção rival havia entrado na comunidade da Maré, dominada anteriormente pelo Comando Vermelho, e efetuado os disparos. A viatura de Rafael, em operação pela pacificação do complexo de favelas, foi uma das primeiras a chegar e uma das primeiras a ouvir a revolta da mãe. “Ela chorava com muito ódio. E eu, então, percebi como há um tensionamento entre classes. Numa situação como aquela, tensa, não pude falar nada. Fiquei de mãos atadas. A comunidade se aglomerou em volta do corpo, e a gente precisou isolar a área. Todo mundo estava revoltado. Era uma comoção intestina. E o que pude fazer como militar foi isolar e tentar acalmar os ânimos. Eu gostaria muito de chegar perto daquela mãe e tentar confortá-la, mas não pude. Queria que aquela mãe me identificasse como alguém que sofre os mesmos problemas desse modelo de segurança pública violento, porque o militar também morre, vive uma escala de serviço absurda, principalmente os praças, numa situação muito cansativa. Eu não pude chegar para aquela mãe e falar que estamos juntos na luta.
Independentemente de o filho dela ter envolvimento com o tráfico – e certamente tinha, não quero romantizar -, era uma mãe que sofria. E eu sentia que estávamos lutando entre nós por interesses externos. Aquilo me impactou. Era uma mãe, mais uma mãe que chorava diante de um corpo. Poderia ser mãe de um militar ou de um traficante”, conta. “Todos nós vivemos na linha da violência”, pontua o homem que, em 2014, ao retornar da dura missão em solo carioca, comunicou aos seus superiores seu desejo de sair da corporação. Ficou mais um ano. Em 27 de novembro de 2015, Rafael finalmente deixou para trás a carreira iniciada como sargento. Nunca mais vestiu a farda.
Armado de livros
 A graduação em direito, Rafael havia começado em 2011, em Goiás. Transferiu para a UFJF pouco depois, mas precisou trancar em 2014, por conta das missões. Há dois anos, concluiu o curso com um estudo profundo sobre a segurança pública no país, analisando, especificamente, a pacificação no Complexo da Maré, espaço, sob sua ótica, historicamente criminalizado pelo Estado, tais como os quilombos. Este ano, Rafael ingressou no mestrado, pesquisando a funcionalidade do complexo militar industrial. “Analiso na minha pesquisa que a indústria bélica cumpre uma função econômica importante. Vejo o caso específico dos Estados Unidos, que tem uma das economias mais pujantes e um setor bélico muito forte. Analiso as especificidades dessa mercadoria armamento, para demonstrar que diante desse cenário em que o próprio sistema tem uma indústria bélica essencial para o metabolismo do capital, as lutas institucionais, como as da ONU, se tornam vias de negociação que já nascem fadadas ao fracasso”, explica. “Passo o dia tentando conciliar as atividades da vida acadêmica, da advocacia autônoma, que exerço, trabalhando em vara criminal e vara de família, da rotina pessoal (é pai da pequena Júlia, de 6 anos, e noivo da estudante de enfermagem Lidiane),e da militância”, diz, referindo-se ao Coletivo Liberdade, a forma que encontrou para se manter intervindo. “Desde que saí do Exército, passei a atuar na militância, até que no início desse ano, eu e uma amiga da faculdade junto de outras pessoas nos organizamos. Não se trata de militância partidária, mas de um trabalho específico para a população carcerária de Juiz de Fora e suas famílias. Hoje temos cinco advogados populares, assistente social, psicólogos, enfermeiros, a maioria recém-formados, cheios de gás. Atendemos gratuitamente as demandas que nos trazem da Vara de Execuções Penais. E nosso principal objetivo é buscar a auto-organização dessas pessoas. Não queremos fazer assistencialismo, mas promover a conscientização de classe nessas famílias, para que reconheçam que esse modelo de segurança pública violento as afeta e que o direito penal é seletivo em sua aplicabilidade.” O grupo promove reuniões quinzenais com famílias no Centro de Direitos Humanos, no Vitorino Braga, e presta assessoria jurídica. Pela reduzida equipe do coletivo, os advogados populares oficiam, mas não assumem causas por procuração, já que precisariam selecionar os casos em que poderiam trabalhar, o que não seria justo. Uns não valem menos que outros.
A graduação em direito, Rafael havia começado em 2011, em Goiás. Transferiu para a UFJF pouco depois, mas precisou trancar em 2014, por conta das missões. Há dois anos, concluiu o curso com um estudo profundo sobre a segurança pública no país, analisando, especificamente, a pacificação no Complexo da Maré, espaço, sob sua ótica, historicamente criminalizado pelo Estado, tais como os quilombos. Este ano, Rafael ingressou no mestrado, pesquisando a funcionalidade do complexo militar industrial. “Analiso na minha pesquisa que a indústria bélica cumpre uma função econômica importante. Vejo o caso específico dos Estados Unidos, que tem uma das economias mais pujantes e um setor bélico muito forte. Analiso as especificidades dessa mercadoria armamento, para demonstrar que diante desse cenário em que o próprio sistema tem uma indústria bélica essencial para o metabolismo do capital, as lutas institucionais, como as da ONU, se tornam vias de negociação que já nascem fadadas ao fracasso”, explica. “Passo o dia tentando conciliar as atividades da vida acadêmica, da advocacia autônoma, que exerço, trabalhando em vara criminal e vara de família, da rotina pessoal (é pai da pequena Júlia, de 6 anos, e noivo da estudante de enfermagem Lidiane),e da militância”, diz, referindo-se ao Coletivo Liberdade, a forma que encontrou para se manter intervindo. “Desde que saí do Exército, passei a atuar na militância, até que no início desse ano, eu e uma amiga da faculdade junto de outras pessoas nos organizamos. Não se trata de militância partidária, mas de um trabalho específico para a população carcerária de Juiz de Fora e suas famílias. Hoje temos cinco advogados populares, assistente social, psicólogos, enfermeiros, a maioria recém-formados, cheios de gás. Atendemos gratuitamente as demandas que nos trazem da Vara de Execuções Penais. E nosso principal objetivo é buscar a auto-organização dessas pessoas. Não queremos fazer assistencialismo, mas promover a conscientização de classe nessas famílias, para que reconheçam que esse modelo de segurança pública violento as afeta e que o direito penal é seletivo em sua aplicabilidade.” O grupo promove reuniões quinzenais com famílias no Centro de Direitos Humanos, no Vitorino Braga, e presta assessoria jurídica. Pela reduzida equipe do coletivo, os advogados populares oficiam, mas não assumem causas por procuração, já que precisariam selecionar os casos em que poderiam trabalhar, o que não seria justo. Uns não valem menos que outros.
Formado pela experiência
O desejo era construir a independência. Nascido em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, Rafael, filho mais velho de um casal formado por um funcionário público do IBGE e uma professora, ao completar o segundo grau, quis trabalhar. “O Exército é uma oportunidade que atrai os jovens, porque é um concurso público que só homens de 18 a 24 anos disputam, então, a concorrência não é a mesma (em relação a outros concursos). Eu não queria fazer faculdade estando em casa, queria desonerar meus pais das despesas comigo”, diz. “Entrei no Exército aos 19 anos, pela Escola de Sargentos das Armas. Vim para Juiz de Fora, porque o primeiro ano do curso foi aqui, depois fui para Três Corações (onde está a escola). Depois de dois anos de internato, me formei sargento. Fiquei no exército de 2008 até final de 2015. Nesse período, participei de missão nos grandes eventos como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e a mais tensa delas, a chamada pacificação no complexo de favelas da Maré. Foi uma missão muito característica desse modelo de segurança pública no Rio de Janeiro, do controle policial do cotidiano do pobre. Por ter sido num momento entre grandes eventos, entre a Copa e as Olimpíadas, e por ser em uma comunidade cercada pelas linhas amarela, vermelha e Brasil, essa missão deixou claro que seus fins não eram resguardar a população, mas garantir os interesses dos investidores dos eventos, ainda que para isso houvesse um controle violento do dia a dia dos moradores das favelas. Passei por troca de tiros e diversas outras situações e, naquele momento, vi que não era nisso que eu acreditava. Sou de uma família de classe média baixa, e romper era difícil. Decidi que tomaria outra postura na vida. Estaria entrincheirado, sim, na questão da segurança pública, mas tentando mudar a realidade das pessoas que são as mais afetadas por esse modelo violento”, afirma, recordando-se da rotina dura. “Por esse aspecto, sou grato ao Exército. Acordava cedo, ia dormir tarde, com atividade durante o dia inteiro, e sempre tendo que fazer alguma coisa. Essa disciplina levo comigo.” Já o arrependimento, não. “Foi uma decisão eminentemente ideológica, de compreender que não havia a possibilidade de permanecer ali sendo reto com meus princípios éticos, morais e ideológicos. Passei bastante aperto financeiro, agora começo a me estabilizar. Queria sair e fazer algo que valesse a pena, não queria ser um burocrata, mas poder transformar a realidade.”
Indignado com as distorções
A primeira vez que Rafael pegou em uma arma foi no Exército, ainda no curso de formação para se tornar sargento. “Quando a gente atira no estande de fuzil, não tem, de imediato, a impressão sobre a que fim aquele armamento se destina. Atirar num alvo é como um esporte. Só temos a noção real numa missão”, narra ele, que ao subir o morro da Maré tomou contato não apenas com o próprio projeto, mas com uma realidade sobre a qual pouco sabia. “O que mais me marcou foi a situação de miséria que algumas comunidades dentro do complexo viviam. Lá tem desde os miseráveis até o cidadão de classe média. Alguns vivem numa situação extrema. E eu estava numa missão em que tinha munição para gastar à vontade. As Forças Armadas gastaram quase R$ 600 milhões só naquele um ano e meio de operação, tendo problemas muito mais urgentes e essenciais que não eram resolvidos e poderiam ser, por muito menos dinheiro. Outro caso que me impactou foi ver que toda aquela comunidade era cercada por placas acústicas para impedir o avanço do som dos carros nas vias expressas. Aquelas placas custaram cerca de R$ 20 milhões para o município do Rio de Janeiro, mas dentro da comunidade havia pessoas em situação de miséria. Os governantes diziam que era preciso proteger a comunidade do som, mas era uma estratégia para esconder a favela. No final da minha graduação, fiz estudos e descobrimos que aquelas placas impactavam algumas poucas famílias, e a massa de 140 mil habitantes sequer sentia os efeitos”, aponta, lamentando a cruel criminalização da pobreza. “A violência é uma questão social e não pode ser tratada de outra forma. Esse modelo de UPP é muito característico da frase do presidente Washington Luís (1926-1930), que dizia que ‘questão social no meu governo é caso de polícia'”, associa, para logo defender a valorização dos direitos humanos. “Está havendo um crescimento da população carcerária e um recrudescimento do sistema penal, das operações policiais ao judiciário e, no geral, vemos a juventude pobre e negra atrás das grades, em grande medida por crimes relacionados ao tráfico de drogas”, critica, certo de que a seletividade identificada em Juiz de Fora também prevalece em todo o país.