
Carlos Augusto Corrêa é poeta que trabalha o texto exaustivamente. Influência de Joaquim Cardozo, João Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond de Andrade, Eliot e Baudelaire. Entre outros poucos. Ele me conta. Essa resposta veio quando o assunto eram as inquietações que ele leva para a poesia. O autor carioca escreve, principalmente, sobre morte, opressão social, amor e sexo. “Trabalho a metalinguagem, porém intimamente ligada ao sentimento do mundo. A metalinguagem sem a presença da vida vira literatice”, dispara ele, que sempre se dedicou à literatura.
Produziu intensamente. Publicou o primeiro livro de poemas em 1977. A partir dos anos 2000, no entanto, resolveu levar a público apenas as crônicas que passou a escrever, o que ele faz em “Chão de praça”, coluna que mantém no Facebook. Como resultado, dois de seus títulos de poesia permanecem inéditos. “De Corpo e (C) Alma”, de 1999, e “Poemas esparsos”, de 2000. No entanto, agora, seus textos ainda não publicados estão chegando aos leitores, pois a editora carioca TextoTerritório acaba de fazer o pré-lançamento de “Poesia reunida” (288 páginas), obra na qual encontramos poemas que o escritor produziu no período que vai de 1977 a 2022.
Carlos Augusto Corrêa é um daqueles poetas e cronistas que todos deveriam conhecer. Pela literatura que faz e pelas histórias que viveu. Elas merecem ser contadas. O escritor atuou na imprensa carioca. Na Tribuna da Imprensa, manteve uma coluna semanal de livros. Escrevia o noticiário das obras que eram publicadas na época. A experiência durou cerca de seis anos. Depois, foi para o Jornal do Brasil. Exerceu o mesmo ofício por dois anos. Sofreu na pele a mordaça imposta nos duros anos da Ditadura Militar. E foi nesse período escrevendo para os dois periódicos que, também, teve a oportunidade de estreitar os laços com alguns ilustres escritores. Conheceu Drummond e chegou a se corresponder, brevemente, com ele, por meio de cartas. A propósito, foi do poeta itabirano que veio o conselho para que procurasse jornais e revistas culturais onde pudesse publicar suas crônicas. A maturidade no gênero, disse o escritor mineiro, viria com a prática. E assim fez o autor carioca.
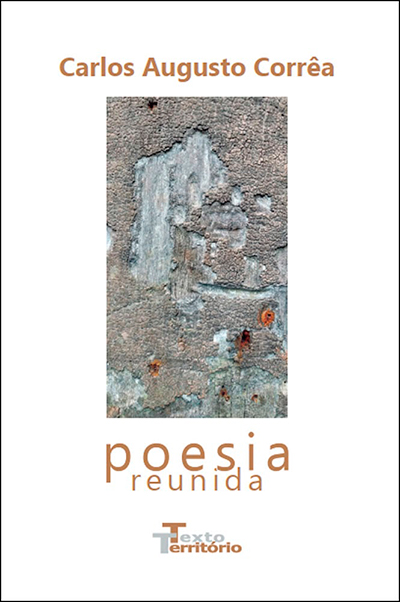
Em “Poesia reunida”, você revisita poemas produzidos há mais de 40 anos. Como foi a experiência de retornar a eles?
Experiência de reviver os poemas antigos com a vivência de que hoje disponho da palavra. Sentia muitas vezes uma necessidade incontrolável de refazer os textos, coisa que não ocorreu nos livros de início. Por quê? Porque eram textos pouco discursivos, tal a influência que tive de algumas vanguardas naquele então.
E por que decidiu reunir sua poesia neste momento? Por que este recorte temporal (1977 a 2022)?
Bem, foram alguns livros com perspectivas diferentes. O “Terra presente” e o “Orgia do escuro” foram poemas em prosa, o que não fiz nos três primeiros livros. Depois veio a fase dos anos 90, em que, de posse de mais recursos, me pus a fazer o verso livre mais cônscio do que sabia. Eu me senti mais à vontade. E, por fim, veio a experiência do erotismo. Já setentão, deitei os olhos na experiência erótica adquirida há tantos anos e tal me dispôs a fazer um poema erótico bem mais conciso. Aproveitei a concisão do princípio de minha arte e usei e abusei do assunto erótico mais solto. De 2000 a 2020, com duas preocupações: uma, a de trabalhar e trabalhar a crônica. Tive experiência dela na Tribuna da Imprensa, quando fiz também resenhas. A segunda, a de continuar fazendo poesia sem publicar. Meu interesse era crescer mais na crônica. Segui conselho de Drummond que, em conversa sobre o assunto, pediu que eu escrevesse em jornais e revistas culturais. Ele disse: crônica é prática, tem que estar em jornais. Escolhi o Facebook, onde escrevo há 13 anos uma coluna, chamada “Chão de praça.” Eis a razão de eu ter feito o corte a que você se refere.
Você se correspondeu brevemente com Drummond por meio de cartas. Como eram essas correspondências? Sobre o que falavam? Aliás, em uma delas, ele escreve sobre um poema que você dedicou a ele. O que ele achou do poema?
Não privei com Carlos Drummond de Andrade. Tive, sim, alguns contatos com ele, muito proveitosos, além de algumas cartas. Na verdade, foram contatos literários. Eu escrevia uma coluna semanal de livros na Tribuna da Imprensa, onde fazia o noticiário das publicações da época, sobretudo de poesia. A coluna durou uns cinco e seis anos, salvo engano. Mais tarde, exerci a mesma atividade por dois anos no “Suplemento do livro” do Jornal do Brasil. Por isso fiz vários contatos na área de escritores. Certa vez, encontrando-me com Drummond no JB, ele me disse que já me conhecia da Tribuna. Então, troquei cartas com o poeta sobre poemas que mandava para sua leitura e sobre assuntos cotidianos. Chegou a comentar sobre um poema meu a ele dedicado. Reparou em uma e em outra palavra e sustentou que o poema resistia. Agora, há um aspecto que me agradaria bastante comentar. Mencionei Carlos Drummond de Andrade não para dizer que o poeta me escolhera como poeta seu preferido da novíssima geração. Longe de mim, tal inverdade. Seria uma enorme patranha. Quis mostrar que o maior poeta do século XX respeitou o meu texto. Ele o leu, o que só por isso me envaideceu bastante.
E até que ponto Drummond contribuiu para a visão que você tem da literatura?
Drummond, como João Cabral, Murilo e Jorge de Lima foram poetas com o mesmo peso em minha arte. Nele, estive muito atento ao humor e ao jeito substantivo e, ao mesmo tempo, espontâneo de usar a palavra. Foi um mestre. Um poeta pouco discursivo. E essencial. Mal pego “Claro enigma” ou “Rosa do povo”, sinto a excelência de seu poetar. Em momento algum, desperdiça um tema. Dialogo tão ricamente com sua poesia tanto quanto com sua crônica. A propósito, o cronista tem muito do humor, por vezes sarcástico, de Machado. Na poesia e na crônica, Drummond atinge o máximo do pensamento e do sentimento humanos.
Consta na sua biografia que a militância política fez parte da sua vida até os anos 1980 e que depois você decidiu se dedicar exclusivamente à literatura. Por que não a militância e a literatura?
Militei politicamente durante os anos 60, 70 e início de 80. E me desliguei da vida partidária, embora tenha me mantido fiel aos princípios gerais do marxismo. Depois, pus de parte a participação política direta e decidi, em verdade, militar dentro da literatura. Minhas armas não eram mais os caminhos complexos da guerrilha. Não cheguei a experimentá-la, todavia me coloquei no interior de uma organização dessas por uns anos, até mais ou menos 1974/75, num período difícil do autoritarismo.
Quando atuou na imprensa literária, chegou a enfrentar a censura. Como eram esses tempos?
Vivi na imprensa literária mais de 20 anos. Na Tribuna da Imprensa, até 1977, 8/9, vivi os piores dias. Nossos textos eram cortados, ou parte deles. Apareciam partes em branco. Eu chamava esses caminhos, não de caminhos de ratos, porém dos ratos. Em cada jornal, havia um barnabé da caneta que permanecia a um canto do jornal, inteiramente menosprezado por nós. Eram sentinelas do mal, subcidadãos malformados, com cheiro de Pinochet. Nossa alegria era o que tínhamos a dizer, era a resistência nossa, a vontade de ver o Brasil livre desses detratores que, munidos de baixa cultura, sabiam grunhir palavras ásperas e reparar o que não deviam. A Tribuna foi um jornal que representou a resistência de minha geração, a de 70. O prédio antigo na Rua do Lavradio abriu as portas para nós podermos soltar o verbo em nome da democracia popular. O jornalista Hélio Fernandes permitiu que fôssemos ao espaço do jornal para afirmar que o Brasil tinha de se livrar dos Médicis e Geisels que nos sufocavam.
Ao publicar o primeiro livro, em 1977, você procurou se esquivar da repetição das vanguardas e também da poesia discursiva do passado. Como resultado, publicou uma obra hermética. Depois, também em 1977, resolveu valorizar a metáfora, mantendo a influência das vanguardas. O que você busca com sua literatura?
Busquei com minha literatura acompanhar o movimento da poesia daquela oportunidade. Meu primeiro livro se chama “Junção”, porque eu queria juntar um pouco do discurso da poesia discursiva e da arte não discursiva. “Junção” seria esse caminho intermediário. O texto saiu hermético. Depois, em 1977, valorizei a metáfora e não deixei totalmente de lado as vanguardas. Em verdade, buscava a minha linguagem. Queria um poema mais meu. Escrevi em jornais nos anos 70, mormente na Tribuna e depois no JB. Vivi aquele clima de ameaças, prisões, assassinatos, torturas. Todo dia quase recebíamos notícias de alguém morto, preso ou desaparecido. Nos jornais, o ar era pesado, dado o peso dramático ou trágico das notícias. Aquilo incomodava mentes e coração. Disse a Moacyr Felix na ocasião que ia publicar um poema longo que mostrasse meu inconformismo às ditaduras brasileiras e às demais. Ele afirmou que a minha geração ainda não tinha um texto assim. Gullar publicou o “Poema sujo” e fui fazendo o livro, vivendo, escrevendo e tardou para sair porque eu queria que o poema tivesse a linguagem minha. Fui elaborando e o guardei. Queria que fosse um poema em prosa, o que não havia ainda feito. Mas um poema em prosa ágil, bem movimentado. Por isso tirei todos os adjetivos do texto. Só mantive o “presente” do título. Usei do espaço para destacar e um aluvião de referências sobre autoritários e aspectos do cotidiano. Outro objetivo: sustentei que o texto não fosse panfletário. Ou seja: questionar, sim, contudo sem querer que o leitor recorresse às armas. Não admiti que meu projeto de poesia raiasse em panfletarismo. Tenho certeza de que produzi um livro do gênero. Senti-me aliviado quando a obra saiu. Senti-me um brasileiro que não capitulara àquela democracia antipopular. Outro episódio de poesia que seria do meu agrado referir foi de um encontro que tive na residência de Gullar, depois que publicou o “Poema sujo”. Entabulamos conversa de quase duas horas a respeito de poesia e súbito perguntei: “poeta, quando vai publicar um outro ‘Poema sujo’?”. Gullar sorriu, soltou no ar um “tá maluco” e afirmou, na verdade, o que mais queria dele: saber de seu processo criativo. O texto foi exarado sob a pressão do momento. Aquele tiroteio, a multidão em protesto, as torturas e as mortes. Aí não suportei o clima e o poema foi sendo parido com ênfase. E neste sentido me adverti mais uma vez da sua diferença de composição para João Cabral.
Sua produção não se resume aos poemas. Você também escreve crônicas. Drummond, certa vez, disse a você que a maturidade no gênero chega com a repetição. Outros cronistas falavam com você que, com o tempo, a escrita torna-se natural. Como é hoje sua relação com a escrita?
Minha relação com a escrita é de muito trabalho ainda. Acontece que, hoje, a crônica sai com mais naturalidade. Mais fácil. Escrevo um parágrafo e vou revendo. Assim revejo todos os parágrafos à proporção que me aplico a escrever. No final, passo os olhos na crônica e a dou por encerrada. Já com a poesia, a labuta continua intensa. Burilo mais. Tive dois anos de prática escrevendo o longo “Terra presente” e “Orgia do escuro” e o texto assim saiu.
E, na sua coluna no Facebook, você publica crônicas, fazendo um trabalho semelhante ao que fazia na Tribuna da Imprensa e no JB. Essa mudança de suporte, a tecnologia, altera a relação estabelecida entre quem escreve e quem lê. Dá para dizer que você está revivendo aqueles bons momentos da imprensa literária?
A mudança de tecnologia estreitou o laço do escritor com o público. A visibilidade do texto se fez maior. Por vezes, umas simples frases suscitam a atenção de muitos leitores. Mas o contato fisicamente com o leitor diminuiu. A imprensa literária, em minha mocidade, era mais vibrante. Perguntei a Fausto Cunha por que não escrevia mais como antes. Fausto relatou que, até os anos 80, ele tinha o prazer de frequentar o jornal. Ia lá, entregava a matéria e em seguida parava na redação para conversar com os escritores e jornalistas, o que não podia mais fazer porque a comunicação era mais por e-mail ou outros recursos da rede social.







