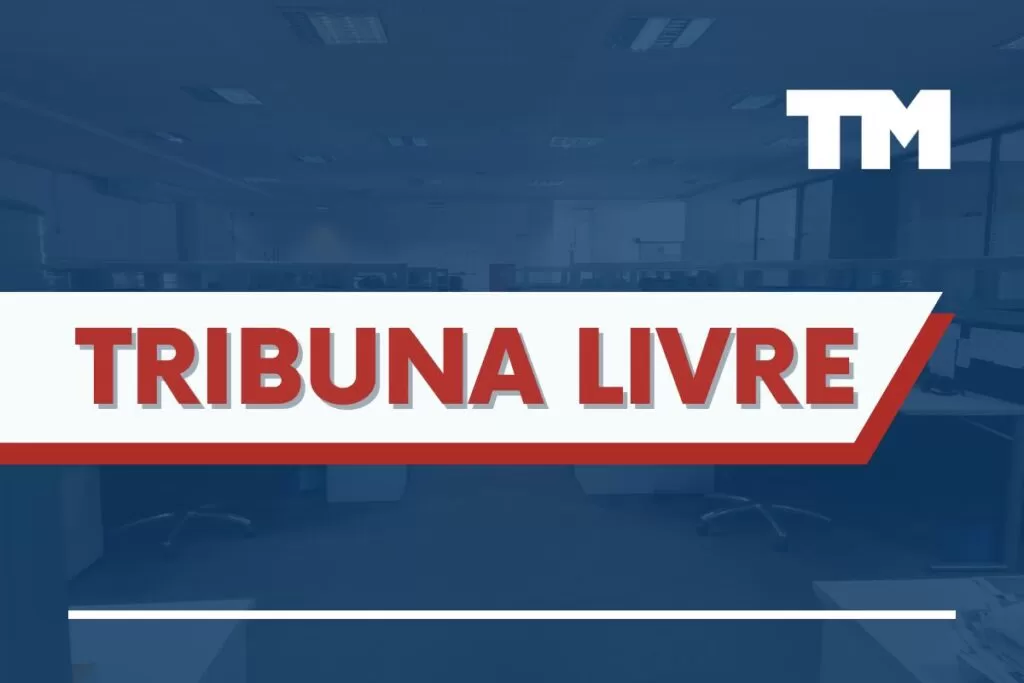Ao empossar-se na presidência do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luís Roberto Barroso acentuou a “fluidez da fronteira entre política e justiça”, como explicação para o fato de aquela Corte tantas vezes proferir decisões destinadas a suprir eventuais omissões do Congresso Nacional. Realmente, na vigência da Constituição de 1988, a jurisdição do STF expandiu-se consideravelmente em relação a temas que, antes, ficavam confinados à esfera do Legislativo, levando o tribunal, em alguns casos, a exercer atribuições tipicamente normativas. Isso decorre, em grande parte, do caráter principiológico da nossa Carta Política e dos instrumentos processuais por ela instituídos para o controle da constitucionalidade das leis. Mas resulta também de uma certa concepção do direito constitucional, que tem entre alguns juízes do Supremo grandes entusiastas: o chamado neoconstitucionalismo. Dando elasticidade aos princípios e conferindo poderes demasiados aos seus aplicadores, tal concepção erige os juízes em oráculos da Constituição, de modo que esta passa a ser o que os ministros da mais alta Corte entendem que seja. Para justificar esse estilo de atuação, chega-se a invocar um suposto papel contramajoritário do Supremo, como se o povo houvesse conferido aos seus ministros o poder de controlar a vontade das maiorias.
Ora, numa democracia cabe aos eleitos pelo povo – e somente a eles – dizer o que corresponde ao interesse público. Essa é uma tarefa política – e política não se confunde com direito. Ao direito cumpre, sim, disciplinar o exercício da política. E assegurar a manifestação das minorias, pelos que a representem. Não é esse o papel dos juízes, cuja atribuição é a de dirimir conflitos e fazer prevalecer a lei, jamais a de atuar como agentes contramajoritários em relação a correntes de opinião – e muito menos a de “empurrar a história na direção do progresso”.
Por outro lado, a função normativa não se confunde com a função jurisdicional nem se considera implícita no âmbito dessa. São duas atribuições distintas, competindo a primeira ao legislativo e a segunda ao judiciário. A este, por intermédio do Supremo Tribunal, cabe, em determinados casos, suprir a omissão do legislativo, quando esse Poder, deixando de deliberar sobre determinada matéria, frustra o exercício do direito subjetivo pelo destinatário da norma constitucional dependente de regulamentação. Mas, isso o Supremo deve fazer mediante a adoção de procedimentos que permitam encontrar um sucedâneo para a falta de regulamentação da norma constitucional, enquanto esta não é editada _ e sempre em caráter subsidiário. Estabelecer regramentos normativos em substituição ao Congresso, mesmo a pretexto de que esse esteja omisso, é tarefa que extrapola as atribuições do judiciário. Vai nessa direção, por exemplo, a tentativa de legitimar o aborto, nas primeiras doze semanas de gestação, numa criação cerebrina, que não encontra apoio na Constituição, mas apenas resulta do voluntarismo de uma corrente dita contramajoritária. Aliás, esse entendimento, antes de tudo, desafia um princípio hermenêutico, segundo o qual não cabe ao intérprete distinguir onde a lei não distingue. Do mesmo modo, quando o Supremo, ainda que imbuído do mais nobre propósito, equiparou a homofobia ao racismo, considerando as questões de gênero como sendo da mesma natureza das questões raciais, igualmente foi além da lei e afrontou o clássico princípio da reserva legal, que é um princípio básico do direito penal.
A separação de poderes é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Quando este é ameaçado, a estabilidade constitucional se vê comprometida. Quando essa ameaça parte de juízes, a Constituição corre o risco de ficar desacreditada.